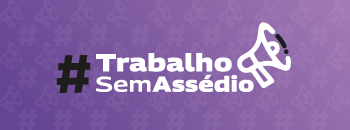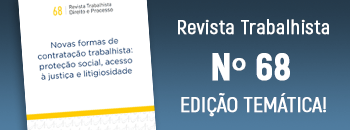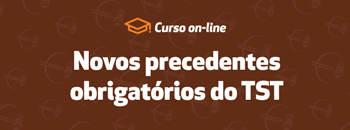De um modo geral, quanto aos predicamentos da Magistratura, as doutrinas nacionais distinguem entre garantias institucionais (a saber, a autonomia orgânico-administrativa e a autonomia orçamentária) egarantias funcionais. Essas, por sua vez, distinguem-se entre garantias de independência (artigo 95, I a III, CRFB) e garantias de imparcialidade (art. 95, par. único, CRFB).
As garantias de independência são, na tradição constitucional brasileira, avitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios.
Diga-se, em particular, da importância estratégica do vitaliciado para a independência da Magistratura e do Ministério Público. A vitaliciedade tem origem secular, remontando à Constituição de 1824, que dizia serem “perpétuos” os juízes brasileiros. Traduz-se juridicamente na garantia de não perder o cargo, senão por decisão judicial transitada em julgado. No último lustro, porém, volta a ser objeto de ataques no Brasil. Assim, p.ex., pretendiam extingui-la ou relativizá-la a PEC n. 53/2011 (Senado), a PEC n. 291/2013 (Câmara) e a PEC n. 505/2011 (Câmara). Ao lado da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) atuou fortemente em todas essas frentes, na perspectiva de assegurar, para atuais e futuros magistrados, a garantia da vitaliciedade.
Não se confundem, tecnicamente, as garantias de independência e asprerrogativas “stricto sensu”. As ditas prerrogativas da Magistratura estão basicamente previstas no art. 33 da LOMAN, em um rol significativamente restrito, se comparado ao rol de prerrogativas do Ministério Público (LC n. ). Dentre as prerrogativas “stricto sensu”, citem-se, por excelência, as seguintes:
1. a prerrogativa de não ser preso, senão por ordem do tribunal competente, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável;
2. a prerrogativa de prisão especial ou em sala de Estado Maior, durante a restrição cautelar (inocorrendo, portanto, durante o cumprimento definitivo de pena privativa de liberdade); e
3. o porte de arma de fogo para defesa pessoal (com alguma polêmica atual, à vista do “esquecimento” dos juízes e membros do MP entre aqueles que, nos termos Estatuto do Desarmamento — Lei n. 10.826/2003 —, estariam dispensados de submeter-se à autoridade policial para o exercício do porte).
Por outro lado, compreender a real extensão do atributo da independência judicial requer alguma compreensão histórica. Vejamos.
O conceito moderno de jurisdição, construído na tradição secular do direito romano-canônico, não é fiel ao conceito romano de “iurisdictio” (v. OVÍDIO BAPTISTA). E da mesma forma, mais recentemente, caminha-se para asuperação do conceito formal de CHIOVENDA (“realização da vontade concreta da lei”). Com efeito, entende-se hoje ser função da jurisdição, em acepção contemporânea, a tutela de direitos subjetivos (e, em especial, dedireitos humanos fundamentais), como genuíno exercício de soberania do Estado.
A ideia formal de jurisdição, como expressão da vontade “concreta” da lei, possivelmente deite suas raízes mais remotas na “cognitio extraordinaria” do direito romano pós-clássico. Naquele tempo, a reboque da emblemática concentração de poderes políticos promovida por JUSTINIANO, ascodificações justinianeias — hoje diríamos a “lei em sentido formal” — seriam a fonte praticamente exclusiva do direito; e o imperador, seu único intérprete.
Na pós-modernidade, porém, essa compreensão já não se sustenta. A jurisdição, para além das suas funções formais, deve desempenhar uma específica função substantiva: a de imperativo de tutela (C. W. Canaris, Proto Pisani), o que transforma em responsabilidade aquilo que, noutros tempos, seria mera possibilidade da atividade judicante: prestigiar as fontes e as hermenêuticas que melhor atendam à defesa do direito objetivo.
Algo dessa tendência, porém, poder-se-ia identificar, um vez mais, na própria tradição processual romana. Com efeito, no direito romano clássico(= período republicano), a coexistência de uma multiplicidade de fontes do Direito (p.ex., as leis, os senatusconsultos, as constituições imperiais, as respostas dos prudentes, etc.) estimulou sensivelmente o caráter criativoda Jurisprudência (na acepção anglo-germânica — «Jurisprudenz» —, ligada à Ciência do Direito e à doutrina), como da própria jurisprudência(na acepção latina, ligada à construção hermenêutica dos tribunais). O Direito era construído, em larga medida, pela integração pretoriana; e sua legitimidade se extraía não apenas dos meros procedimentos burocráticos, mas — em uma leitura weberiana — das próprias tradições condensadas na razão jurídica.
Com efeito, a iurisdictio clássica era privada, no sentido de não-estatal, porque seu conteúdo era ditado por um particular (o iudex); nada obstante, era pública, como expressão do imperium romano (porque publicitada com o selo de Roma, pela pessoa do praetor). Nas esferas de socialidade, essaiurisdictio valia mais pela sua ratio que pela sua auctoritas, traduzindo o sentido não-coercitivo das fontes formais do Direito.
Pois bem. A iurisdictio a que se referia G. CHIOVENDA («volta à jurisdição romana») é a iurisdictio da Roma dos imperadores (pós-clássico), que precede historicamente a Justiça de Estado. Ganha corpo, paulatinamente, a ideia de jurisdição como instrumento de pacificação social, em substituição à ideia grega de justiça concreta (bem mais próxima dos modelos anglo-saxônicos do “judge-made-law”). A iurisdictio da pacificação social encontra o seu ápice na Revolução Francesa e em seu liberalismo político (com reflexos evidentes e inescusáveis no fenômeno da jurisdição: vejam-se, e.g., o princípio da inércia, o princípio da correlação entre a demanda e a sentença, a proibição dos julgamentos por equidade etc.). É dessa tradição, ademais, a multicitada expressão do BARÃO DE MONTESQUIEU (pronunciada, em sua obra, para descrever o perfil ideal das magistraturas das repúblicas): “le juge est la bouche de la loi”; seriam, com efeito, “seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor”. Em linha similar, T. HOBBES, tido por alguns como o pai do liberalismo moderno, observava que a justiça não é questão a ser descoberta pelo juiz, mas confiada ao legislador (Leviathan, XXVI, 7).
Daí que, com o advento do Estado moderno, dá-se a funcionalização do fenômeno jurídico. Nas palavras do saudoso OVÍDIO BAPTISTA, “o jurídico perde definitivamente a sua essência. A justiça deixa de ser uma questão inerente à iurisdictio, para ser um assunto de Estado” (Processo e Ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2006). Cotejando esse fenômeno com o passado e as magistraturas romanas, bem se poderia dizer que, a partir da separação histórica entre os papeis do “ius dicere” (a iurisdictio romana, exercitada pelo praetor, mediante ato deimperium e com vocação constitutiva) e do “iudicare” (exercitada pelo iudex romano, como ato de pura ratio, com vocação declaratória), emerge no século XV a figura do juiz moderno, que concentra e depois monopoliza, na sua própria institucionalidade, essas duas dimensões funcionais.
É sobretudo nessa institucionalidade refundada que o atributo da independência passa a ter inequívoca centralidade nas magistraturas judiciais. Porque, afinal, o juiz já não era mais a longa manus dos reis, como fora durante quase toda a Idade Média; era, antes, um instrumento de que o cidadão poderia dispor para rechaçar os desmandos e as arbitrariedades dos governos políticos.
Nessa ordem de ideias, se o juiz fala por si mesmo — ou pela Magistratura que, profissionalizada, passa a encarnar o Estado-juiz —, já não é possível apartar a dimensão funcional da dimensão humana. Paulatinamente, e com matizes diversos, os povos passam a compreender que:
(a) o juiz, ao decidir, julga (também) com base em seus substratos culturais e na sua cosmovisão, porque são ambos filtros inseparáveis de si mesmo.Não por outra razão, algumas tradições jurídicas admitem abertamente que o juiz “cria” o direito em algum sentido; e não poderia ser diferente, se já está adquirido pela teoria geral do Direito que a norma jurídica não se confunde com a fonte forma, mas brota dela, a partir da atividade de intelecção do juiz que interpreta/aplica a fonte. O predicamento da independência também diz com esse “poder criativo”, que se exerce a partir dos referenciais dos sistemas de direito objetivo.
(b) o juiz não pode ser punido disciplinarmente por suas convicções jurídicas racionalmente motivadas (ainda que adiante, no curso procedimental, sua decisão seja reformada ou anulada).
A primeira premissa foi sobretudo assimilada pelos sistemas jurídicos filiados à common law, que cunhou a noção de “judge-made-law” e conferiu aguda preeminência às magistraturas em seus contextos nacionais. A segunda premissa foi consagrada até mesmo em textos internacionais e transparece fortemente em algumas legislações ocidentais, como na brasileira. É o que está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Brasil, LC n. 35/1979), que se lê que “a atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado” (artigo 40) e que, “salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir” (artigo 41).
Por outro lado, não é incomum que, mesmo em países com democracias já consolidadas, sobrevivam resquícios históricos da interferência institucional dos governos constituídos na própria atividade judicante, com prejuízos diretos ou oblíquos para a independência dos magistrados. No próprio panorama brasileiro, cite-se a participação do Poder Executivo na nomeação de desembargadores e ministros de tribunais superiores. Há, porém, mecanismos ainda mais perniciosos, porque submetem concretamente a atividade jurisdicional a juízos censórios de forte pendor administrativo. Sirva-nos como único exemplo, por emblemático, o que autoriza a Constituição do Chile, ao dispor que “[l]os tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva” (g.n.); dá-se, como é evidente, uma perigosa confusão entre as esferas judicial e administrativa, na medida em que o texto constitucional confere ao legislador o poder de definir hipóteses nas quais a atividade censório-disciplinar dos tribunais é capaz de fulminar típicas decisões jurisdicionais.
E, de fato, assim se legislou.
O Código Orgánico de Tribunales chileno previu, em seu artigo 545, orecurso de queja, com a finalidade de “corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias” (g.n.). E dispôs a seguir, no n. 3, que, “en caso que un tribunal superior de justicia, haciendo uso de sus facultades disciplinarias, invalide una resolución jurisdiccional, debe aplicar la o las medidas disciplinarias que estime pertinentes. En este caso, la sala dispondrá que se dé cuenta al tribunal pleno de los antecedentes para los efectos de aplicar las medidas disciplinarias que procedan, atendida la naturaleza de las faltas o abusos, la que no podrá ser inferior a amonestación privada” (g.n.).
Eis, no contexto judiciário do cone sul, um inapelável exemplo a não ser seguido. Com efeito, diante do que se demonstrou logo acima quanto à evolução histórica das magistraturas — culminando com a sua independência essencial, assegurada por uma série histórica de garantias institucionais e funcionais —, previsões com esta chilena, à luz dos baldrames universais que regem a matéria, são de discutível legitimidade. Afinal, aquelas garantias, se protegem o juiz e a sua instituição, estão mesmo vocacionadas à tutela da cidadania: servem à proteção do próprio cidadão, porque asseguram a indenidade dos magistrados que contrastarão interesses poderosos, amiúde os do próprio Estado.
É o que têm reconhecido, alhures, os tribunais internacionais de direitos humanos. Na década passada, em Findlay v. Reino Unido, o Tribunal Europeu de Direitos do Homem decidiu que “as decisões judiciais não devem ser modificadas por autoridades que não tomem parte do Poder Judiciário. Em outras palavras, não é possível que a validade jurídica das decisões judiciais e sua condição de res judicata (coisa julgada) estejam sujeitas à ação dos demais poderes do governo” (g.n.). Há de ser assim, com efeito, também em relação aos próprios tribunais judiciais, “si et quando” no exercício de poderes administrativos (como é o caso dos poderes disciplinares das cortes): sua atividade censória não deve modificar decisões judiciais, e tanto menos punir juízes pelo exercício da jurisdição, sob pena de vergastar severamente um dos principais pilares das democracias contemporâneas.
Nas Américas, em sentido similar, dita o Estatuto del Juez Iberoamericanoque, “no exercício da jurisdição, os juízes não se encontram submetidos a autoridades judiciais superiores, sem prejuízo da faculdade dessas últimas de revisar as decisões judiciais através dos recursos legalmente estabelecidos, e da força que cada ordenamento nacional atribua à jurisprudência e aos precedentes emanados das cortes supremas e tribunais superiores” (g.n.). Noutras palavras, tendo certo juiz decidido questão de fato ou de direito em determinado sentido, segundo o seu livre convencimento motivado (o que afasta as hipóteses de peia e prevaricação, porque nesses casos obviamente cabe a atividade censória — mas pelos meios próprios, autônomos, e não pela decisão em si, mas pelascircunstâncias e motivos que a determinaram), restará aos tribunais de apelo, como aos tribunais superiores, tão somente anular ou reformar a decisão, se delas discordarem — e desde que provocados por meio dos recursos legalmente previstos para tanto. Nada mais.
Está secularmente adquirido, portanto, que as decisões judiciais só podem ser legitimamente reformadas ou anuladas no próprio âmbito jurisdicional, por meio dos recursos e dos demais meios judiciais de impugnação legalmente estabelecidos. O que significa, “a contrario sensu”, que nem as autoridades executivas e legislativas, nem tampouco os próprios tribunais judiciais, no desempenho de suas funções administrativas, poderão validamente revisar decisões tipicamente judiciais. Caminhar noutro sentido — como faz a legislação chilena — é albergar déficits de independência judicial.
E não é só.
A par dos excessos na atividade censória dos tribunais, acercam-se da Magistratura, ainda no âmbito judiciário, outras claras ameaças de índoleadministrativa que devem ser escrutinadas. Abordemos a mais recorrente entre nós, desde há uma década — e que vem à baila neste exato momento, entre os dias 10 e 11 de novembro, quando o Conselho Nacional de Justiça discute com os noventa e um tribunais do país, em Florianópolis, durante oVIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, as novas “metas” para o Poder Judiciário no ano de 2015, de acordo com os macrodesafios do Poder Judiciário para o período de 2015 a 2020. Vejamos o porquê.
A independência judicial e a democracia interna devem estar em mira quando se discute o modelo de gestão para o Poder Judiciário brasileiro. No Brasil, a Resolução CNJ n. 70 de 18.03.2009, ao dispor sobre oPlanejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, registrou que o Judiciário nacional tem por missão a de “realizar justiça”; por visão, a de ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social; e por atributos do valor judiciário, a credibilidade, a acessibilidade, a ética, a imparcialidade, a modernidade, a probidade, a responsabilidade social e ambiental e a transparência (artigo 1º). É mesmo função constitucional do CNJ, ut artigo 103-B, §4º, CRFB, promover o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como propor as providências que julgar necessárias para o equacionamento dos gargalos do Poder Judiciário, o que abrange o respectivo planejamento e gestão estratégica (i.e., a “governança” do Judiciário). Por outro lado, se é certo que o CNJ atua como órgão de “controle interno” — não assumindo, pela sua atual configuração (art. 92, I-A, CRFB), o caráter de controle externo —, também é certo que, mesmo como órgão interno, pode interferir indevidamente na independência e na livre convicação motivada dos juízes. O que nos leva à inexorável indagação: nos temas da governança e da gestão judiciária, quais escolhas têm sido feitas pela cúpula do Poder Judiciário?
Tome-se como exemplo paradigmático o ano de 2010.
Há precisos quatro anos, no III Encontro Nacional do Judiciário (São Paulo, 2010), já consagrada a aplicação do método BSC (“Balanced scorecard”) para a gestão do Poder Judiciário — introduzido sob a Presidência da então Ministra Ellen Gracie e consolidada sob a Presidência do Ministro Gilmar Mendes —, elegiam-se as dez metas prioritárias para 2010, como deverão se eleger hoje (para 2015), todas elas escolhidas nos termos do artigo 6º-A, §1º, da Res. CNJ n. 70 (i.e., por presidentes e corregedores dos tribunais; os demais desembargadores, os juízes e as associações de magistrados não tinham e não têm direito de voto, em inexplicável “capitis deminutio” política, para os juízes e para a democracia). Escolheram-se ainda, àquela altura, quinze objetivos entre oito temas, a partir dos quais caberia aos tribunais desenvolver planos estratégicos regionais, alinhadosao Plano Estratégico Nacional, com abrangência mínima de cinco anos (sob aprovação nos órgãos plenários ou especiais).
Pois bem: desses quinze objetivos, apenas três diziam com melhorias estruturais no âmbito do Poder Judiciário; e, dentre aquelas dez metas prioritárias, apenas uma era propriamente “estrutural” (não atingida, diga-se). Todas as demais eram metas de produção e afins. No limite, a mensagem institucional terminava por ser esta: a todos um supremo esforço, com mínimas contrapartidas estruturais. A médio e longo prazos, uma receita certa para o estresse profissional, o absenteísmo e o adoecimento.
Como serão agora, quase um lustro depois, as “metas” para 2015? Tornar-se-ão novamente um fim em si mesmo? Enfatizarão novamente números e produtividade, como se fora a decisão judicial um item de mercado (e de consumo)? Ou, afinal, devolverão centralidade à atividade intelectual do juiz (que pressupõe reflexão e estudo, sempre em tempo razoável — artigo 5º, LXXVIII, da Constituição —, mas com tempos diversos para casos de diversas complexidades)? Apostemos no segundo caminho. Afinal, a Justiça está sob novo comando.
A par disso, a política judiciária tem padecido de certa multicefalia gerencial. Apenas no âmbito da Justiça do Trabalho, atuam administrativamente o CNJ, o CSJT e os TRTs, todos com projetos e/ou “metas” a vencer. Assim, por exemplo, na transição de 2011 para 2012, a alimentação do cadastro nacional de devedores trabalhistas — o BNDT (Banco Nacional de Devedores Trabalhistas) — paralisou secretarias por todo o país, para o cumprimento de uma política priorizada pelo TST e pelo CSJT (com excelentes ganhos pósteros, registre-se; mas não é esta a questão). No plano regional, àquela época, o TRT da 15ª Região propunha, no âmbito da Corregedoria Regional, a liquidação “zero” e a eliminação do arquivo provisório; no âmbito da Vice-Presidência Administrativa, propunha-se a autuação integrada; e assim sucessivamente. Tudo isto sem prejuízo das dez metas prioritárias então indicadas pelo CNJ, e não raro sob prazos fatais. No final, as prioridades da própria unidade jurisdicional, tal como mapeadas pelo juiz — o seu “gestor” por excelência —, eram as últimas a vencer e as únicas não priorizadas.
E se segue alimentando, desde pelo menos 2008, uma “cultura de metas” que evoluiu para um genuíno culto às metas. É certo, porém, que metas dizem com a tática (i.e., com a forma específica e imediata de se atingir objetivo delimitado), não com a estratégia (i.e., com o equacionamento amplo e lógico das atividades, no tempo e no espaço, para a consecução da missão e da visão de futuro da organização); e tanto menos podem se tornar um fim em si mesmo, sob o pálio do eficientismo estatístico. Paulatinamente, o Judiciário tem revelado, a quem queira ver, a principal distorção associada pela crítica acadêmica àquele método BSC (traduzido no Brasil como “indicadores balanceados de desempenho”): as metas transmudam-se silenciosamente, evoluindo de meio a fim.
E, não bastasse, nas rotinas dos tribunais, caminhou-se para umahipertrofia dos mecanismos de controle, com a excessiva burocratização das atividades de fiscalização, documentação e controle, como resposta à necessidade de demonstração daqueles indicadores. Vive-se, então, um “império dos relatórios”, muitos dos quais de duvidosa utilidade (veja-se, e.g., a Recomendação CGJT n. 01/2013: superado certo prazo-padrão de julgamento estabelecido administrativamente para todo e qualquer processo, instaura-se procedimento administrativo para depois se saber se o “atraso” pode ou não estar justificado).
Tudo a justificar, afinal, a crítica bem posta de ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, juiz de Direito e docente da Universidade Federal de Santa Catarina, para quem, nos dias de hoje, “os ‘Aparelhos Ideológicos’ (ALTHUSSER) são governados por práticas de gestão administrativas da eficiência, cujo preço democrático é percebido por poucos”, mas que se manifestam nos “inúmeros Relatórios que o Conselho Nacional de Justiça obriga a preencher a todo o momento”, como também no “culto pela ‘avaliação’, até porque não se sabe, de fato, quais são os critérios de quem analisa, se é que analisa”, e na constatação de que “cada vez mais os magistrados são obrigados a enquadrar suas atividades em fichas técnicas de cumprimento de obrigações conforme o Protocolo, também editado ou reiterado pelo CNJ, com o primeiro reflexo de se jogar conforme as regras do jogo, a saber, cada vez mais só se valoriza o que gera bônus, transformando a atividade jurisdicional em uma verdadeira atividade de ‘franqueado jurisdicional’”. Disso resulta uma crescente “homogeneização” das decisões, “voluntariamente ou de maneira forçada (súmulas, reclamação, recusa recursal, etc.), com a transformação dos antigos juízes em meros gestores de unidades jurisdicionais”. Conviria, porém, ir além. Gestor vem de “gerir” (gĕro, is, gēssi, gēstum, gerĕre), que diz com produzir, criar, dirigir uma ação (HOUAISS). Se os juízes de primeiro e segundo graus não decidem nem a estragégia e nem tampouco as táticas, não são “gestores”, se não em um sentido muito pobre (o de “reproduzir”). São, a rigor, meros executores (a exemplo, precisamente, de “franqueados” — mas aqueles mais limitados, cujos contratos de franquia proíbem qualquer inovação no modelo produtivo).
Prega-se, pois, a ode ao “juiz gestor”. Mas o que se cria, no cadinho da burocratização escravizante, é a cultura dos “juízes executores”. Onde estará, nesse caso, a “independência” do magistrado?
Aos poucos, deixa de ser independente. Até mesmo para formatar suas próprias pautas.
Harold MASLOW, autor conhecido pela enunciação das teorias clássicas de motivação, escreveu certa feita que “um músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, caso pretendam deixar seu coração em paz. O que um homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de auto-realização” (g.n.).
A ser assim, a “missão” do Poder Judiciário deveria traduzir, afinal, o que ele concretamente deve ser; não uma esfinge semântica (do tipo “realizar justiça”).
Urge fazer essa reflexão crítica: para o que — e a quem — serve, afinal, o Judiciário? Basta-lhe “pacificar”, asfixiando — ou ocultando — os conflitos?
E, a partir das respostas que se deem, convirá repensar o modelo de planejamento estratégico do Poder Judiciário nacional, quiçá incorporando métodos de análise global e qualitativa de resultados, que possam instrumentalizar estratégias dirigidas a uma genuína visão de futuro.
Em poucas horas, terminará o VIII Encontro do Poder Judiciário. “Alea jacta est”. Permito-me indagar: o Judiciário está lá?
(*) O autor é Professor Associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito pela FDUSP e pela Universidade de Lisboa. Livre-Docente em Direito pela FDUSP.