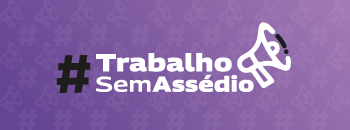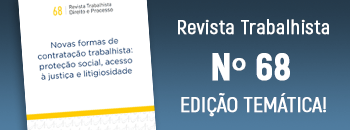Juiz Guilherme Feliciano fala sobre como os juízes do Trabalho tratarão a reforma trabalhista
Se você está “antenado” com as recentes alterações da legislação trabalhista, caro leitor, já deve ter se perguntado ─ ou, talvez, se empenhado em responder ─ sobre se e como os juízes do Trabalho aplicarão a Lei n. 13.467/2017, conhecida como “lei da reforma trabalhista”. A grande mídia inclusive já se antecipa, aqui e acolá, para “repreender” uma Magistratura do Trabalho que, imagina, vai “ignorar” a nova legislação, como se ela não existisse. Há mesmo quem condicione a própria subsistência da Justiça do Trabalho a esse dilema: aplicar ou não aplicar a Lei n. 13.467/2017, eis a questão! Se se negar a aplicar a lei, ou boa parte da lei, ou toda a lei, poderá inclusive ser extinta (?!). Acredite, leitor, até mesmo essa “chantagem” institucional chega-nos aos ouvidos. Eis o novo enigma da esfinge, ser mítico que amalgama o corpo de um leão e a cabeça de um ser humano (a “androsfinge”) ou então de um pássaro (a “hierosfinge”, usualmente baseada em um falcão; poderia ser um papagaio?). “Decifra-me ou te devoro”, perguntou a esfinge de Tebas a Édipo. A se devorar, no Brasil de 2017, a própria Justiça do Trabalho…
Então, afinal, resta-me responder, do alto dos meus vinte anos e poucos meses de Magistratura do Trabalho, a cabalística pergunta: como os juízes do Trabalho tratarão a reforma trabalhista?
E a resposta, ei de proferi-la em alto e solene tom: não sei.
Não sei, exatamente porque neste “não saber” reside a garantia do cidadão de que o seu litígio será concretamente apreciado por um juiz natural, imparcial e tecnicamente apto para, à luz das balizas constitucionais, convencionais e legais, dizer a vontade concreta da lei. Daí a célebre expressão da nossa tecnologia processual: jurisdição (= iuris + dictio). E cada qual há de fazê-lo com independência, de acordo com o seu convencimento ─ e sob adequada fundamentação ─, sem se sentir premido por quem, externo às fileiras judiciárias, queira ver abaixo a Lei n. 13.467/2017, como tampouco por quem queira vê-la aplicada vírgula sobre vírgula.
A Lei n. 13.467/2017 é altamente polêmica. E, na opinião de muitos ─ entre os quais me incluo ─, lamentavelmente mal redigida. Peca mesmo onde não precisaria pecar. Entendo, mais ─ e já o disse peremptoriamente, nesta coluna e noutros sítios, em sucessivas ocasiões ─, que está repleta de inconstitucionalidades e de inconvencionalidades. Dito de outro modo, há preceitos seus que, a nosso ver, violam diretamente o texto da Constituição Federal de 1988; e, nessa medida, sequer poderão ser “salvos”, por qualquer esforço hermenêutico (v. a respeito, p. ex., a ADI n. 5.766/DF, ajuizada há pouco pela Procuradoria-Geral da República). Outros preceitos existem que deverão ser interpretados de acordo com a Constituição, para que seu texto tenha sobrevida útil sob o atual regime constitucional (e é o que trataremos de fazer, logo abaixo, com respeito ao art. 8º, §3º, da CLT). E outros há, ainda, que se chocam com tratados e convenções internacionais de que o Brasil é parte signatária; se tais tratados dispuserem sobre direitos humanos (como ocorre, por definição, com o rol dos direitos sociais fundamentais, historicamente acometidos à chamada “segunda geração” ou “segunda dimensão” de direitos humanos), e se forem aprovados pelo Congresso Nacional e adiante promulgados pelo Poder Executivo, integram-se ao ordenamento jurídico brasileiro com status de supralegalidade (v. a respeito, por todos, STF, RE n. RE 466343/SP, rel. Min. GILMAR MENDES). Nesse caso, as “novidades” da Lei n. 13.467/2017 ─ que, “per supuesto”, é lei ─ não têm como prevalecer. Simples assim, sem qualquer “pegadinha” teorética.
Mas, é claro, nem todos os juízes do Trabalho pensam assim. E nem todos julgarão assim. Eis a democracia, brotando da complexa tessitura social e intelectual que compõe a Magistratura brasileira, rumo ao único patamar possível de segurança jurídica: aquele que se constroi pela fundamentação (e, logo, pela argumentação racional), em ambientes dialógicos (não é o que diz o art. 6º do CPC/2015?[1]), até a consolidação das jurisprudências. Para isso, o sistema judiciário. A norma se extrai do textolegal (v. STF, ADPF n. 153, rel. Min. EROS GRAU); a norma não “é” o próprio texto.
Ninguém, portanto, poderá dizer ao juiz do Trabalho, de antemão, como ele deverá interpretar a Lei n. 13.467/2017. Esse é o seu papel republicano. Dele, juiz do Trabalho. E, para esse mister, ele tem de ter independência. Esse é o seu pilar primeiro.
A garantia da independência judicial, como se sabe, não existe para o juiz, mas para o cidadão. As Nações Unidas assim a reconhecem, como textualmente se lê, p.ex., no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou no artigo 14, 1, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Mas é também o que restou consagrado entre os Princípios Básicos das Nações Unidas relativos à independência da Magistratura (ratificados pela Assembleia Geral da ONU em sua Resolução n. 40/1932, de 29.11.1985):
“Independencia de la judicatura
“1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.
“2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. […]
“8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura.” (g.n.)
É, igualmente, o que consubstancia o Valor n. 1 da conhecida Carta de Princípios de Bangalore, de 2002:
“Independencia
“Principio
“La independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales.
“Aplicación
“1.1 Un juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente, partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. […]” (g.n.)
E é, com efeito, de aquisição universal que
“Any mention of judicial independence must eventually prompt the question: independent of what? The most obvious answer is, of course, independent of government. I find it impossible to think of any way in which judges, in their decision-making role, should not be independent of government. But they should also be independent of the legislature, save in its law-making capacity. Judges should not defer to expressions of parliamentary opinion, or decide cases with a view to either earning parliamentary approbation or avoiding parliamentary censure. They must also, plainly, ensure that their impartiality is not undermined by any other association, whether professional, commercial, personal or whatever.”[2]
Logo, um juiz não pode ser censurado pelo conteúdo do seu convencimento técnico-jurídico ou acadêmico-científico — por mais inusual que seja −, desde que o fundamente razoavelmente, i.e., dentro das balizas objetivas que compõem o sistema jurídico em que está inserido. Isto não é “desobediência civil”. É hermenêutica. Daí porque, para decidir questões-de-direito ou questões-de-fato, o juiz tem de ser necessariamente livre. E nem poderia ser diferente. Sendo humano, o juiz jamais será um autômato dos textos. Isto não é possível.
A argumentação jurídica não pode fugir absolutamente dos referenciais simbólicos do sistema. Mesmo porque, dissemos alhures – em abordagem luhmaniana −, todo (sub)sistema é necessariamente um acontecimento antientrópico[3]. Produz-se a si mesmo sob uma perspectiva de ordem, não de sépsis. Daí a necessidade de internalização coerente das intelecções hermenêuticas (o que tem a ver com a integridade proposta por DWORKIN para o seu “juiz-hércules”). Atendido e demonstrando esse pressuposto, todavia, a argumentação é indelevelmente livre. Ou não haveria autonomia judiciária.
Discutir o livre convencimento motivado ─ que, digo e redigo, não sucumbiu diante do CPC/2015, porque não poderia sucumbir ─ é, pois, discutir os limites da Hermenêutica.
Ocorre que nenhuma interpretação jurídica pode ser “verdadeira” ou “falsa” (= atitude objetivante), como nos ensina Jürgen HABERMAS (“O que é a Pragmática Universal?”, 1976); tais atributos são próprios do mundo da natureza externa. Pertencendo ao mundo do dever-ser − ou, dirá Habermas, no “nosso” mundo de sociedade −, uma interpretação jurídica apenas pode ser “certa” ou “errada” (= atitude conformativa), cabendo ao Poder Judiciário, intérprete último das fontes formais do Direito, dizer se determinada compreensão tem ou não “correção” no marco do sistema jurídico. Dirão, portanto, os tribunais. E, para dizê-lo – mesmo que na perspectiva dworkiniana da única resposta certa −, não prescindirão de sua liberdade.
Observe-se, de outro turno, que aquilo que distingue a atividade legislativa da atividade judicante não é a “criatividade” substancial daquela primeira – eis, a propósito, o falso fundamento de quem quer negar aos tribunais qualquer função criativa −, mas o modo como ela é engendrada[4]. Os parlamentos legislam a partir de inputs de diversas naturezas (políticos, sociais, econômicos), tendencialmente difusos e abstratos. Juízes, ao revés, desenvolvem o “judicial law-making” a partir de focos concretos(modelo de “cases and controversies”) e em “regime de soberania vinculada” (CARNELUTTI).
A hipótese de um Poder Judiciário “não-criativo”, com um corpo de magistrados que apenas repita os textos de lei e adapte a vontade histórica do legislador – ou a vontade histórica dos próprios tribunais − aos casos concretos, em modo de (quase) pura subsunção formal, não atende aos pressupostos políticos do Estado Democrático de Direito. Infantiliza o juiz, automatiza-o, quando não o bestializa (mais uma vez, a figura do papagaio). Sob tais pressupostos, a Magistratura torna-se incapaz de refletir a diversidade e a pluralidade do pensamento jurídico. E é menos apta a preservar as minorias contra os ímpetos das maiorias políticas, que ditam os textos de lei. É que tampouco a “lei” é um fenômeno empiricamente abstrato ou neutro. E, diga-se claramente, tal entendimento — se promana originalmente da ciência política — não é sequer algo para “iniciados”. A grande mídia já o diz. Assim é que “[o] Estado, nos seus vários níveis, não é neutro. Ele sofre pressão de grupos extremamente fortes que atuam dentro das burocracias estatais, nas secretarias, nas assembleias”[5]. E daí se poder afirmar, inclusive entre leigos, que “[u]ma boa receita para produzir o pior dos mundos é aplicar com máximo zelo todas as leis vigentes”[6].
A rigor, reservar ao juiz o papel de mero enunciador da lei (ou de enunciador dos precedentes) é, na verdade, suprimir seu papel dinâmico no jogo dos “checks and balances”, vergastando um dos mais importantes mecanismos da forma republicana de governo. E, mais que isso, é manietar o próprio “procedural due process”, por combalir a independência judicial. Afinal,
“a independência do juiz há de ser compatível com sua configuração humana como sujeito de capacidade plena, de preocupações pela justiça que vão além de seu exercício profissional, e como titular de todos os direitos que a lei não lhe restrinja ou suprima em atenção a razoáveis medidas de incompatibilidade. Falamos, pois, de um juiz não facilmente domesticável, não mudo, nem mais diminuído em seus direitos do que o indispensável.” (g.n.)[7]
Vou me repetir: juízes não são autômatos. Nem são “neutros” (embora devam ser necessariamente imparciais — o que é outra coisa). Julgam sob as balizas do sistema jurídico-positivo, mas também manifestam percepções subjetivas do justo, cuja legitimidade se constrói (ou não) pelos referenciais teórico-sistêmicos do respectivo discurso.
Veem-se, entretanto, às voltas com movimentações visíveis, na grande mídia, nos próprios tribunais e algures no Parlamento ─ e abri esta coluna com tais referências ─, todas sugerindo o “dever” de os juízes do Trabalho, a partir de 11/11/2017, serem absolutamente literais na interpretação das novidades da Lei n. 13.467/2017 (o que, as mais das vezes, sequer será possível). As investidas chegam às raias de uma acintosa chantagem institucional, como de início denunciávamos: subjaz, velada ou explicitamente, uma ameaça à própria existência da Justiça do Trabalho, desde que o “sentido do legislador” (como se ali não houvesse provavelmente 594 intelecções diferentes sobre o texto) seja “subvertida” pela interpretação dos juízes e tribunais do Trabalho. Rejeita-se, nessa sugestiva mordaça hermenêutica, a interpretação histórica, sistemática ou teleológica; talvez até mesmo a interpretação lógica. Ignoram-se, de resto, as possibilidades de interpretação conforme a Constituição (e, portanto, a própria Constituição). Não se descole da letra, sr. juiz!
Isto, querido leitor, é virtualmente impossível. A vontade objetiva do legislador histórico é indevassável, notadamente quando estamos diante de um texto lacunoso e impreciso, como é o caso. A rigor, até mesmo a vontade do relator histórico do PL n. 6.797/2016 será, em muitos aspectos, inalcançável.
Tal pendor, ademais, é autoritário ─ i.e., antidemocrático ─, porque indiretamente recusa ao cidadão uma de suas garantias constitucionais mais valiosas, que é a do pleno acesso a um Poder Judiciário livre e independente. É, ademais, antirrepublicano, porque contraria um dos pilares da República, que é a independência harmônica entre os Poderes do Estado (art. 2º da Constituição). E é, por fim, acintosa, como dito há pouco, porque encerra uma odiosa e leviana chantagem institucional: se quiserem sobreviver, srs. juízes, renunciem às suas convicções jurídicas e à própria Constituição como filtro de interpretação. Nada mais grotesco.
Na mesma linha, é inadmissível supor que o “princípio da intervenção mínima”, inserido no art. 8º, §3º, da CLT[8], possa significar uma obsequiosa blindagem para os acordos e convenções coletivas de trabalho, quanto a qualquer questão de “fundo”. Fere a Constituição da República qualquer interpretação daquele texto que termine por extrair, de seus termos, uma norma de absoluta imunidade jurisdicional dos ACT/CCT quanto a seus conteúdos, precisamente porque a ordem constitucional brasileira não transige com negócios jurídicos imunes à jurisdição. Nos termos do art. 5º, XXXV, CF, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (inclusive quando ela dimanar de negócio jurídico). Eis, então, as razões pelas quais se há de interpretar o art. 8º, §3º, da CLT no sentido de que todas as questões de constitucionalidade, convencionalidade e legalidade podem ser suscitadas, no âmbito da licitude e da possibilidade jurídica do objeto do negócio jurídico, como dispõe o art. 104, II, do CC, referido pelo novo preceito celetário.
Por tudo isso, em síntese ─ e eis a tese fundamental a se reconhecer e defender, a ─, impende afirmar que:
(a) os juízes do Trabalho, à maneira de todos os demais magistrados investidos com jurisdição, em todos os ramos do Judiciário, devem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, o que importa (a.1) no exercício do controle difuso de constitucionalidade das leis (art. 97/CF); (a.2) no próprio controle de convencionalidade das leis (art. 5º, §§2º e 3º, CF); e (a.3) no uso de todos os métodos de interpretação/aplicação disponíveis (gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico), sem perder de vista (a.4) a própria interpretação conforme a Constituição.
Daí que:
(b) será inconstitucional qualquer norma que colime imunizar o conteúdo das convenções e acordos coletivos de trabalho da apreciação da Justiça do Trabalho, inclusive quanto à sua constitucionalidade, convencionalidade. legalidade e conformidade com a ordem pública social, não se admitindo qualquer interpretação que, dimanada do art. 8º, §3º, da CLT, possa elidir a garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF); e
(c) será autoritária, antirrepublicana e acintosa, agredindo a independência harmônica entre os Poderes da República (art. 2º/CF) e a independência técnica do juiz (arts. 35, I, e 40, da Lei Complementar n. 35/1979), toda ação política, midiática, administrativa ou correicional que pretenda imputar ao juiz do Trabalho o “dever” de interpretar a Lei n. 13.467/2017 de modo exclusivamente literal/gramatical.
Não há nisto, insista-se, qualquer pendor “revolucionário”. É o que os juízes fazem, desde o século XIX, quando os juristas compreenderam, com a robustez teórica necessária, que a Magistratura não é a “longa manus” do Parlamento, como pretendiam os liberais ─ esses sim, a seu tempo, “revolucionários” ─ de 1789. Aliás, também é sabido e consabido, hodiernamente, que sequer o Parlamento externa realmente, em acepção sociológica, algo que se possa identificar como a “volonté générale” (até porque vivemos, na maior parte dos países ocidentais, democracias representativas permeadas por instrumentos de democracia direta, e não o contrário). Nesse quadro de imperfeição institucional, cunhou-se a ideia dos “checks and balances” (= freios e contrapesos), de modo que os Poderes da República limitem-se e complementem-se na consecução dos fins do Estado e da vontade constitucional soberana; logo, também na construção do Direito.
Negar ao Judiciário a sua independência institucional ─ e, ao juiz, a sua independência técnica ─, em qualquer tema que seja (inclusive na reforma trabalhista), é fazer claudicar o sistema constitucional de freios e contrapesos. É ferir de morte a Democracia. E é, no limite, negar um dos fundamentos da República.
Os juízes do Trabalho julgarão, acima de tudo, com ciência e responsabilidade. Essas mesmas, aliás, que papagaios não têm.
———————————————————–
[1] “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
[2] Thomas Bingham [Lord Bingham of Cornhill], “Judicial Independence”. In: Judicial Studies Board Annual Lecture, 1996 (g.n.). Em tradução livre: “Qualquer menção à independência judicial deve eventualmente levar à questão: independente de quê? A resposta mais óbvia é, naturalmente, independente do Executivo. Tenho por impossível pensar em qualquer hipótese na qual os juízes, no seu papel de prolatar decisões, não devam ser independentes do Executivo. Mas eles devem também ser independentes do legislador, exceto quanto à sua capacidade de produzir leis. Juízes não devem adiar as expressões da opinião parlamentar, ou decidir casos com vista a ganhar a aprovação parlamentar, ou a evitar a censura parlamentar. Eles devem ainda, fundamentalmente, assegurar que sua imparcialidade não seja comprometida por qualquer outra associação, seja profissional, comercial, pessoal ou de qualquer ordem”.
[3] Cícero Araújo. Leopoldo, Waizbort, Sistema e evolução na teoria de Luhmann. In: Lua Nova: Revista de Cultura e Política. São Paulo: agosto 1999. n. 47. pp.179-200. V. também Guilherme G. Feliciano, Carlos Eduardo O. Dias, De juízos autoritários, in http://www.conjur.com.br/2015-ago-24/juizes-nao-sao-automatos-tambem-manifestam-percepcoes-subjetivas (acesso em 11.10.2016).
[4] V., a respeito, Otto Bachof, “Der Richter als Gesetzgeber?”. In: Tradition und Fortschritt im Recht: Festschrift zum 500jähringen Bestehen der Tübinger Juristenfakultät. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1977. pp.177-192.
[5] Lúcio Kowarick, “Centro de cobiça”. In: O Estado de S. Paulo. 29.01.2012. p.J-3.
[6] Hélio Schwartsman, “Tão perto, tão longe”. In: Folha de S. Paulo. 27.01.2012. p.A-2.
[7] Francisco Tomás y Valiente, “Independencia judicial y garantía de los derechos fundamentales”. In: Constitución: Escritos de introducción histórica. Madrid: Marcial Pons, 1996. p.163 (g.n.).
[8] “Art. 8º. […] §3o. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.”