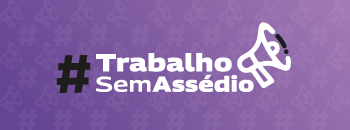A independência judicial, antes de ser um privilégio do juiz, constitui-se em valor de extrema importância para o Estado Democrático de Direito. Em qualquer lugar em que se assegure a total independência do Poder Judiciário é maior a probabilidade de um regular desenvolvimento do jogo democrático, com a efetiva proteção dos direitos fundamentais e o regular controle de todos os poderes públicos. Quanto menor a subordinação do Poder Judiciário ao Poder Político, maior é o equilíbrio institucional e democrático (Gomes, 1997:39).
A irrestrita independência do juiz e a imparcialidade em relação às partes, bem assim a autonomia do Judiciário em face do Executivo e do Legislativo, estão na base da divisão dos poderes. Se é a função do Judiciário controlar os demais poderes e assegurar o exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, enquanto o Poder Político mantiver qualquer tipo de ingerência na política judicial, não poderemos qualificar o Estado como verdadeiramente de Direito. Muito menos democrático.
No Brasil, o sistema de recrutamento de magistrados permite que a escolha se dê de maneira acentuadamente política, conforme analisamos em outro trabalho , segundo as conveniências políticas da autoridade que indica, como resultado de uma rede de pedidos que atentam contra a independência do juiz.
E o que constitui, ao nosso ver, um dos maiores problemas quanto à seleção de juízes é a exigência constitucional de que os tribunais sejam compostos por elementos oriundos da advocacia e do Ministério Público, instituindo, assim, um procedimento de entrada lateral à magistratura, a que se denomina quinto constitucional, historicamente vinculado à institucionalização corporativa dos anos 30 (Vianna, 1997:227). Esta via de acesso aos tribunais potencializa a interferência política, na base da escolha, bem assim no exercício da função jurisdicional.
A reserva de vagas nos Tribunais brasileiros para membros do Ministério Público e advogados, estranhos, portanto, aos quadros da carreira da magistratura, está, a exemplo da representação classista na Justiça do Trabalho, historicamente vinculada à institucionalização corporativa dos anos 30. Tem razão Vianna (1997:227) ao afirmar que "tanto o Quinto quanto os juízes classistas são, assim, sobrevivências do Estado corporativo, institucionalizado pelas Cartas de 1934 e 1937, cuja herança sobreviveu à democratização de 1945 e, ainda hoje, se faz presente na Constituição em vigor (...)".
Ninguém ignora que com o advento da Revolução de 30 a interferência do Estado nas esferas pública e privada passou a ser a tônica da política nacional. O governo instaurado com o movimento, em face da necessidade de compor forças muitas vezes antagônicas, "protagonizou o que veio a ser caracterizado de `Estado de compromisso" (Barreto, 1998:26), fase liberal da Revolução, que teve fim em 1937, quando passou a vigorar a estrutura corporativa. Segundo Fausto (1970; cf. Barreto, 1998:27), o Brasil passou "da ortodoxia liberal à intervenção do Estado".
Na verdade, a concepção corporativa do Estado brasileiro, elevada à condição de pedra de toque do Estado Novo, pretendeu constituir o que hoje seria denominada "terceira via" entre o comunismo e o liberalismo. Com efeito, o Ministro da Justiça do Estado Novo, Francisco de Campos, assim justificava a opção corporativa: "o corporativismo mata o comunismo assim como o liberalismo gera o comunismo. O corporativismo interrompe o processo da decomposição no mundo capitalista previsto por Marx como conseqüência necessária da anarquia liberal. As grandes revoluções políticas do século XX desmentiram a profecia de Marx e desmoralizaram a dialética marxista. A vontade dos homens e as suas decisões podem, portanto, pôr termo à suposta evolução necessária do capitalismo para o comunismo. Essa evolução parou com o fim que o mundo contemporâneo prescreveu à anarquia liberal do século passado. O corporativismo, inimigo do comunismo e, por conseqüência, do liberalismo, é a barreira que o mundo de hoje opõe à inundação moscovita" (apud Rocha, 1987: 15).
Segundo essa visão, o corporativismo surge como antídoto às desordens do liberalismo, ao estatismo e à luta de classes. Através do corporativismo era possível instaurar a "cooperação do antagonismo" (Costa, 1991:49).
Para Barreto (op. cit.:28), o corporativismo como fenômeno social "materializava-se na iniciativa do governo em intervir nos conflitos - na sociedade, portanto -, buscando conciliar interesses que, embora diferentes, não deveriam ser conflitantes, mas cooperativos".
Assim, era necessário criar estruturas, "tais como instâncias do aparelho estatal mais próximas às partes em conflito, onde as representações classistas (...) estivessem presentes, e a propagada eqüidade, garantida" (idem.:30).
Considerando que "arranjos corporativos são fórmulas de institucionalização do conflito entre interesses de classes antagônicas que levam ao diálogo ou a regras mínimas de convivência sob a arbitragem do Estado" concluiu Costa (idem:1-6) que, no caso brasileiro, "a questão do Estado exigia necessariamente a redefinição da Nação. Obedecendo à sua própria lógica - permanecer uno e indivisível - o Estado deveria se organizar de forma a integrar nele mesmo os interesses da Nação. É da própria lógica do Estado-uno que a Nação se faça nele e por ele representar. (...) Por outro lado, os interesses da Nação (...) devem ser representados por entidades reais, identificadas com as forças vivas da Nação por constituírem sua base real e concreta. (...) Para Oliveira Viana, problemas de integração, participação e representação eram problemas de engenharia político administrativa, mecanismos de resolução de uma crise prévia e original. A crise distributiva. O corporativismo constituía assim um programa normativo, um conjunto de normas a serem instituídas ou legitimadas (reconhecidas pelo Estado)".
Reflexo dessa concepção é a experiência da Assembléia Nacional Constituinte de 1934, da qual participaram deputados constituintes representantes profissionais ou classistas, num total de quarenta, sendo 17 representantes de empregadores, 18 de empregados, três de profissionais liberais e dois de funcionários públicos (Bernardo, 1982:105; cf. Barreto, op. cit. :43).
A partir da experiência da Assembléia Nacional Constituinte, foram estruturadas, já na Carta de 1934, a Justiça do Trabalho e os Tribunais de Justiça dos Estados como arenas, no âmbito do Poder Judiciário, da representação classista, consubstanciada, respectivamente, pelo vocalato e pelo "quinto constitucional" - a reserva de espaços nos Tribunais para membros do Ministério Público e advogados.
Também na esfera judicial, a Constituição de 34 abria os espaços legais para a inserção diferenciada das corporações , das entidades de classe, no Estado. "A ação coletiva era transformada em um direito outorgado pelo Estado. Em troca teriam o reconhecimento do direito de participação nas decisões relativas aos seus interesses" (Costa, op. cit.:14).
Se com a criação da Justiça do Trabalho, constitucionalizada, em 1934, com feição administrativa, o objetivo era transportar para o núcleo do aparato estatal os antagonismos entre o capital e o trabalho, como mecanismo de mitigação da luta de classes para substituí-la por uma política de colaboração, como defende Barreto, o ingresso de integrantes das carreiras da advocacia e do Ministério Público destinava-se a amortecer o embate tradicional, na órbita jurisdicional, entre advogados e membros do Parquet.
Uma providência e outra podem ser vistas como fenômenos de corporativização, que "importa na constituição e na incorporação de organizações paraestatais (...) mais ou menos autárquicas, dotadas de poderes complexos, inclusive o de editar normas gerais dentro da esfera peculiar de cada uma" (Oliveira Viana; apud Costa, idem:33).
Para Oliveira Viana, a expressão mais adequada era "integração", porque a concorrência das instituições sociais para o atingimento dos objetivos do Estado se dava pela agregação de organizações formadas e ativas antes do reconhecimento pelo Estado com o qual viriam a colaborar.
Logo, "a descentralização funcional decorria da delegação e caracterizava a assimilação pelo Estado das sub-estruturas privadas de tipo corporativo que se constituíram extra-estatalmente (...). De natureza predominantemente administrativa, a descentralização funcional revestia-se no entanto de uma dimensão política fundamental" (idem:34).
Não será por outra razão que a representação corporativa, desde a origem - seja na experiência efêmera e única de participação legislativa (Constituinte de 1934), seja no exercício da jurisdição (vocalato e "quinto constitucional") - sofrerá profunda interferência do Poder Político.
Moraes Filho (apud Barreto, op. cit.: 43) aponta vícios na escolha e na atuação dos representantes classistas na Assembléia de 1934, com ênfase para o controle estatal, que, guardadas as diferenças, foram reproduzidas nas décadas subseqüentes, na organização e no funcionamento do Poder Judiciário:
"Foram raras as entidades, se existiram, que escaparam a este controle [do Estado], de resto, sempre exercido, desde sua fundação até hoje, por aquela agência de serviço público. Desde o seu nascedouro a representação classista trouxe consigo esta eiva de submissão ao governo, perdendo, de imediato, sempre com raras exceções, a sua representatividade autêntica de classe."
É de se concluir, então, que o modelo adotado, no Brasil, para a estruturação da representação corporativa nos espaços institucionais judiciais, a pretexto de compor demandas conflitantes e promover a cooperação, ensejou maior controle do Poder Político sobre eles, com prejuízo para a independência judicial e para a autonomia do Poder Judiciário. Porque o reconhecimento pelo Estado das corporações e a sua inserção na estrutura estatal, passou a autorizar, em troca, o controle na escolha dos representantes e na articulação das demandas. Enfim, mecanismos de cooptação e tutela.
Bibliografia
BARRETO, Túlio Velho. Representação classista ou representação sem classe, Recife, Fundação Joaquim Nabuco - Editora Massangana, 1998.
COSTA, Vanda Maria Ribeiro. Origens do Corporativismo Brasileiro, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 1991.
GOMES, Luiz Flávio. A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.
VIANNA, Luiz Werneck et al. Corpo e alma da magistratura brasileira, Rio de Janeiro, Revan, 1997.