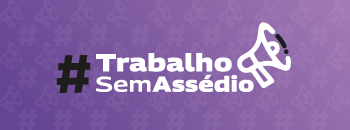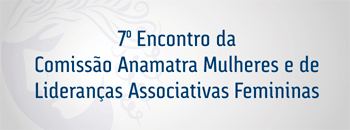Ela é corporativista, soviética, cutista, fascista, socialista, classista ou N.D.A.?
Recentemente, em um de seus ímpetos verborrágicos, certo ministro do Supremo Tribunal Federal criticou a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho – no particular, quanto à ultratividade dos acordos e convenções coletivas de trabalho (Súmula n. 277 do TST, cujos efeitos foram suspensos pela ADPF n. 323) −, denunciando os “soviéticos” tribunais do trabalho brasileiros. Não se sabe bem se, com isto, pretendeu criticar algum “pendor socialista” desses tribunais, que desrespeitariam a propriedade privada em favor dos interesses da “classe trabalhadora”; ou se pretendeu denunciar certo autoritarismo no âmbito das decisões e de suas execuções; ou se quis significar as duas coisas. Mais recentemente – nesta semana −, o mesmo ministro, em mais um episódio de preconceito institucional e desmazelo ético, acusou o Tribunal Superior do Trabalho de ser um tribunal aparelhado por “cutistas”, “petistas”, esquerdistas e afins. Sua fala, de tão infeliz, injuriosa e irresponsável, foi repudiada por dezenas de notas públicas, emitidas pelos mais diversos segmentos do Estado e da sociedade civil organizada, desde a Presidência do próprio TST – com um teor para lá de tímido, é verdade – até a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT), passando pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor), pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e por inúmeras associações regionais.
Foi bom ver, no particular, a pronta e contundente reação social. Mas, a rigor, nada daquilo que foi dito pelo irascível ministro faz realmente algum sentido; e só chamou a atenção porque veio de onde veio (e como veio). Como já não fazem sentido as comezinhas acusações de que a Justiça do Trabalho é uma justiça classista – a violar, já se disse até, a própria garantia do juiz natural, apenas por existir (!) −, ou corporativista, ou ativista, etc., etc.
Vejamos, amigo leitor, se consigo convencê-lo disto. Vou me valer, em boa medida, de informações que publiquei em meu último livro. Cabotinamente, aliás, convido-os à sua leitura: Por um processo realmente efetivo: inflexões do “due process of law” na tutela processual de direitos humanos fundamentais (São Paulo: LTr, 2016). Vejamos.
É fato que a ideologia corporativista do segundo quartel do século XX, associada a tendências nacional-populistas e à tentativa de neutralizar uma suposta luta de classes culminou, àquela altura, com a criação de justiças classistas, especializadas na solução dos litígios entre o capital e o trabalho. O modelo vingou com particular densidade na Itália de Benito Mussolini, sob a égide da Carta del Lavoro que o Gran Consiglio del Fascismo, órgão colegiado máximo na hierarquia política facisto-italiana, fez aprovar em 21.4.1927. Nele se inspiraria, ao menos em certa parte, o Brasil de Getúlio Vargas, alguns anos depois.
Pois bem. Além de positivar vários daqueles direitos sociais que já vinham sendo introduzidos pelo chamado “constitucionalismo social” (como, p. ex., remuneração suficiente, repousos semanais e férias remuneradas, regime especial de trabalho noturno, negociação coletiva, previdência e assistência social etc.), a Carta del Lavoro deitou traços ideológicos muito consistentes, a saber:
dispôs ser a Nação Italiana um organismo com finalidades, vida e meios de ação superiores, em poder e duração, à ação dos indivíduos nacionais, agrupados ou separados; tomou-a, ademais, por uma unidade moral, política e econômica que se realizaria integralmente no Estado fascista (artigo 1º);
dispôs ser o trabalho, em todas as suas formas de organização e execução (intelectuais, técnicas ou manuais), um dever social, sendo por isso tutelado pelo Estado (artigo 2º);
estatuiu que “as corporações constituem a organização unitária das forças de produção, representando integralmente seus interesses”, razão pela qual, coincidindo os interesses de produção com os interesses nacionais, eram elas (as corporações) reconhecidas por lei como órgãos do Estado (artigo 6º).
Enfim, sobre essas três balizas ─ o fascismo, o corporativismo e o imperativo tutelar do trabalho ─, a Carta instituiu a Magistratura do Trabalho, autonomizada organicamente para equacionar os conflitos entre trabalhadores e empregadores, nos seguintes termos:
“V – A Magistratura do Trabalho é o órgão pelo qual o Estado intervém para regular as controvérsias do trabalho, quer elas se refiram à observância dos pactos e de outras normas existentes, quer às determinações de novas condições de trabalho”.
A magistratura laboral destinava-se particularmente a arbitrar os conflitos coletivos de trabalho, mas a solução coercitiva pressupunha a prévia tentativa de conciliação entre as categorias envolvidas (representada então por um “órgão corporativo” ou sindicato). Nesse sentido, dispôs o artigo 10 que, “[n]as controvérsias coletivas de trabalho, a ação judiciária não pode ser intentada sem que primeiro o órgão corporativo tenha tentado a conciliação”. A regra repete-se até hoje no caso brasileiro (artigo 114, §§1º e 2º, da Constituição). Já nos dissídios individuais (“concernentes à interpretação e à aplicação dos contratos coletivos de trabalho”), as associações profissionais eram estimuladas a “interpor seus esforços em prol da conciliação” entre as partes, embora não se tratasse de fase pré-processual obrigatória.
Com a Carta del Lavoro, lançaram-se as bases de uma justiça classista, composta por juízes togados e por membros das corporações profissionais e econômicas, cujo objetivo institucional era precisamente aquele abominado pelo pensamento liberal: intervir nas relações privadas de trabalho, tanto para interpretar a norma jurídica posta (a que correspondia a função que o direito liberal-formal legara aos juízes, meros “enunciadores” da lei) como também ─ e sobretudo ─ para iniludivelmente criá-la: cumpria-lhe determinar novas condições de trabalho, oponíveis geral e abstratamente a todas as categorias profissionais e econômicas envolvidas no conflito. Era a gênese do chamado poder normativo da Justiça do Trabalho, que vicejou em poucos países, mas serviu para aproximar como nunca antes as funções constitucionais legislativa e judiciária. Nessas hipóteses, o juiz já não julgava mais no modelo de “cases and controversies”, pois decidia eminentemente para o futuro; e, por vezes, em regime de soberania vinculada. No Brasil, p.ex., a CLT chegou a prever, em seu artigo 856, que “[a] instância [no dissídio coletivo] será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho” (g.n.) ─ excepcionando, pois, o princípio da inércia da jurisdição (“ne procedat iudex ex officio”).
Portugal também teve o seu constitucionalismo corporativista, na dita fase do “constitucionalismo corporativo e autoritário” (JORGE MIRANDA)[1]. Foi o seu “Estado Novo”, entre a anterior Constituição de 1933 (v. o artigo 5º) e a atual Constituição de 1976. Essa fase foi marcada pela ideia de um Estado forte, pela consequente supressão de liberdades (e.g., a liberdade sindical e a liberdade partidária), pela economia dirigida antiliberal e pela internalização controlada de certos elementos do fascismo (levando p.ex. à formulação de uma ideia supraindividualista de Nação, expressa no Estatuto do Trabalho Nacional então em vigor: “[o]s fins e os interesses da Nação dominam os dos indivíduos e grupos que a compõem”). Reconheceram-se e cooptaram-se os organismos intermediários (Igreja, família, autarquias locais, corporações); e, para tanto, foi criada uma câmara corporativa (com a representação simbólica de todos os elementos estruturais da nova “república corporativa” portuguesa, ut artigo 102º), que não exerceu, na prática institucional, papeis realmente relevantes. O corporativismo lusitano não engendrou, todavia, uma justiça classista para a solução dos seus conflitos sociais. A estrutura judiciária básica foi mantida.
Já no Brasil, a Justiça do Trabalho surge na Constituição de 1934 (artigo 122), com os seguintes dizeres:
“Art. 122. Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I.
“Parágrafo único. A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade pelas associações representativas dos empregados, metade pelas dos empregadores, sendo o presidente de livre nomeação do Governo, escolhido entre pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual”.
A Constituição de 1934 foi promulgada em 16.7.1934, mas a Justiça do Trabalho jamais foi instalada sob a sua vigência. Interessa, porém, identificar os elementos que definiam a natureza da instituição, tal como preconizada àquela altura:
(a) à Justiça do Trabalho não se aplicaria o regramento do capítulo IV do título I ─ “Do Poder Judiciário” ─, o que significa que, quando concebida, não era um ramo do Poder Judiciário, mas uma estrutura apendicular do “Governo”, i.e., do Poder Executivo;
(b) nos órgãos da Justiça do Trabalho ─ que eram os tribunais e as “comissões de conciliação” ─, a composição era paritária, com representantes de empregados e empregadores, presididos por um representante do Poder Executivo, livremente nomeado pelo governo (ainda não havia uma “carreira” para juízes do Trabalho), que não precisaria sequer pertencer aos quadros da Magistratura ordinária ou ser bacharel em Direito (pela letra constitucional, bastava ser pessoa “experiente” nas questões trabalhistas, com “notória capacidade moral e intelectual”);
(c) a competência administrativa da Justiça do Trabalho era restrita às lides entre empregados e empregadores, e somente naquilo em que fossem regidas pela “legislação social” (excluídos, pois, os litígios laborais relativos a matérias de trato civil, como as questões de responsabilidade civil e afins).
Em 1937, após várias decretações de estado de sítio, uma crise de instabilidade política e a grande comoção social gerada pela divulgação de um falso plano de revolução comunista (o controverso “plano Cohen”), Getúlio Vargas consumou um golpe de Estado e instalou a primeira ditadura do Brasil. Para tanto, valendo-se do gênio e da pena de Francisco Campos, Vargas outorgou em 10.11.1937 a chamada “Constituição polaca” (apelido tanto justificado pela semelhança com a constituição autoritária da Polônia da década de trinta, como também por um indisfarçável ímpeto depreciativo: era esse o mesmo nome dado, na época, a uma zona de prostituição do Rio de Janeiro). Instaurava-se o “Estado Novo” brasileiro.
O novo regime corroborou a simpatia que o governo brasileiro inicialmente nutria pelos regimes nacionalistas que se desenhavam na Europa (o nacional-socialismo alemão e especialmente o fascismo italiano), a ponto de Edda Ciano Mussolini, filha do líder fascista Benito Mussolini, ter sido recebida festivamente em 1939 por Adhemar de Barros, então interventor federal indicado pelo Presidente da República para o Estado de São Paulo. A Constituição de 1937 centralizou poderes e cerceou direitos e liberdades (inclusive sociais, como respectivamente o direito de greve e a liberdade sindical), revisando inúmeros pontos da Constituição de 1934, pela qual o Presidente da República alimentava um público desapreço. Com efeito, Vargas chegou a declarar tratar-se, a Constituição de 1934, de “[u]ma constitucionalização apressada, fora de tempo, apresentada como panaceia de todos os males, traduziu-se numa organização política feita ao sabor de influências pessoais e partidarismo faccioso, divorciada das realidades existentes.”.
Mas, quanto à Justiça do Trabalho (artigo 139), a Constituição de 1937 praticamente reproduziu os termos do artigo 122 da carta anterior. In verbis:
“Art 139. Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à qual não se aplicam as disposições desta Constituição relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum.
“A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”.
E, em seu artigo 140, confessava a inspiração corporativista (tendo como fonte direta o artigo 6º da Carta del Lavoro):
“Art. 140. A economia da população será organizada em corporações, e estas, como entidades representativas das forças do trabalho nacional, colocadas sob a assistência e a proteção do Estado, são órgãos destes e exercem funções delegadas de Poder Público”.
A leitura demonstra que, sob o regime autoritário, mantiveram-se a estrutura e a característica originalmente concebida para a Justiça do Trabalho: uma justiça classista, paritária, administrativa (= não judicial) e ─ agora mais claramente ─ corporativista. E incumbiu-se à lei a sua efetiva organização.
Assim se fez. Em 2 de maio de 1939, com o Decreto-lei n. 1.237/1939, a Justiça do Trabalho foi finalmente organizada no plano infraconstitucional. Nos termos do artigo 2º, sua estrutura era composta pelas juntas de conciliação e julgamento ou pelos próprios juízes de Direito da Justiça ordinária (primeiro grau), pelos Conselhos Regionais do Trabalho (2º grau) e pelo Conselho Nacional do Trabalho (grau extraordinário). As juntas eram formadas por dois vogais classistas e um presidente, nomeado pelo Presidente da República, escolhido entre “magistrados de primeira instância ou […] bacharéis em direito de reconhecida idoneidade moral domiciliados na jurisdição da Junta” (artigo 7º, caput). Criava-se, ademais, a Procuradoria do Trabalho, oriunda do Departamento Nacional de Trabalho, que mais tarde originaria o Ministério Público do Trabalho. Por fim, em 1º de maio de 1941, a Justiça do Trabalho foi finalmente instalada em todo o país, como parte da Administração Pública federal, vinculada ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A CLT, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452, de 01.05.1943, apenas a encamparia alguns anos depois.
É certo, então, que a Justiça do Trabalho não era propriamente “justiça”, ao menos sob o pálio das constituições de 1934 e 1937. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal já a havia reconhecido como tal, em sua “fase definitiva” (i.e., no formato final conferido pela CLT), no início da década de quarenta, em sede de controle difuso de constitucionalidade (cf., e.g., REx n. 6.310, in DJU 30.09.1943[2]). No texto constitucional, porém, a Justiça do Trabalho só foi integrada ao Poder Judiciário pós o fim do Estado Novo, com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 18.09.1946, que estatuiu em seu artigo 94:
Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I – Supremo Tribunal Federal;
II – Tribunal Federal de Recursos;
III – Juízes e Tribunais militares;
IV – Juízes e Tribunais eleitorais;
V – Juízes e Tribunais do trabalho” (g.n.).
Em primeiro grau, a Justiça do Trabalho continuava a ser composta por um juiz presidente (togado) e dois membros classistas (um representante dos empregados e outro dos empregadores). Os “conselhos”, porém, transformaram-se em tribunais regionais do trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho (respectivamente, incisos II e I do artigo 122 da Constituição de 1946). E, de resto, positivara-se constitucionalmente a competência da Justiça do Trabalho para, no julgamento de dissídios coletivos de natureza econômica, “estabelecer normas e condições de trabalho” nos casos especificados em lei (artigo 123, §2º). Consagrava-se, pois, o poder normativo judiciário − por muito tempo uma idiossincrasia da Justiça do Trabalho − no plano constitucional brasileiro.
A Constituição de 1967 e a Emenda de 1969 mantiveram essas normas nos artigos 112, 141 e 142, mas passaram a definir a composição do TST e dos TRT´s, introduzindo a figura do quinto constitucional (possibilidade de acesso direito de advogados e membros do Ministério Público aos tribunais do trabalho), e limitaram o recurso para o STF aos casos em que as decisões da Justiça do Trabalho contrariassem a Constituição (artigo 143).
Já com o advento da atual Constituição de 05.10.1988, se foram mantidas as características básicas e as estruturas herdadas da Constituição de 1967/1969, também é certo que se introduziram modificações orgânicas importantes, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista ideológico. Disse-o bem Godinho Delgado[3]:
“[…] a Constituição de 1988 produziu um clarão renovador na cultura jurídica brasileira, permitindo, despontar, no estuário normativo básico do país, a visão coletiva dos problemas, em antecipação à visão individualista preponderante, oriunda do velho Direito Civil. Essa nova perspectiva embebe-se de conceitos e óticas próprias do Direito do Trabalho, em especial a noção de ser coletivo (e de fatos/atos coletivos), em contraponto à clássica de ser individual (e fatos/atos individuais), dominante no estuário civilista brasileiro. Ao constitucionalizar o Direito do Trabalho, a Carta de 1988 praticamente impôs ao restante do universo jurídico uma influência e inspiração justrabalhista até então desconhecidas na história do país”.
Se, porém, a Constituição de 1988 manteve o modelo “classista” de 1943, as críticas quanto à parcialidade da Justiça do Trabalho – ou, ao menos, quanto à sua obsolescência – são procedentes?
Não. Não são.
A Itália abandonou o modelo corporativista com a queda do fascismo, extinguindo a Magistratura do Trabalho em 1956. No entanto, como vimos na coluna anterior, a Alemanha e o Reino Unido ainda mantêm justiças inerentemente classistas, visto que em ambos os casos a estrutura judiciária respectiva goza de autonomia orgânica e conta com efetiva representação classista. Na França, ao revés, os conflitos laborais individuais em primeira instância são julgados pelos conseils de prud’hommes, formados apenas por conselheiros não togados (logo, órgãos judiciários exclusivamente classistas), que se organizam em seções especializadas por matéria. Nos bureaux de conciliation, atuam em pares (um conselheiro empregado e um conselheiro empregador), enquanto nos bureaux de jugement são dois conselheiros empregados e dois empregadores, sendo todos eles eleitos para mandatos de cinco anos, com possibilidade de uma recondução, ao ensejo das élections prud’hommales, que refletem a representatividade dos sindicatos franceses. Como, porém, as instâncias subsequentes não são especializadas, não há autonomia orgânica. Não é esse o caso do Brasil; mas tampouco segue sendo aquele primeiro.
É que, no sistema judiciário brasileiro, se foi mantida a estrutura orgânica autônoma da Justiça do Trabalho em todas as constituições posteriores a 1946, inclusive em 1988 (artigo 114), extinguiu-se em boa hora a representação classista, que contava com juízes não-togados – ditos “vogais” antes da Constituição de 1988 (v. art. 647, “b”, da CLT) −, representantes de empregados e empregadores, um de cada lado da mesa baixa. Essa extinção se deu em 1999, com a Emenda Constitucional n. 24, de 09.12.1999. Quando promulgada, garantiu-se apenas o cumprimento dos mandatos em curso (porque os juízes classistas tinham, na Justiça do Trabalho, mandatos temporários, conquanto muitos os renovassem com certa frequência); tão logo cumpridos, já não haveria renovação da vaga classista. E assim se deu. No Tribunal Superior do Trabalho e nos tribunais regionais do trabalho, porém, os cargos classistas foram transformados, abrindo-se para a nomeação e posse de juízes togados.
Cinco anos depois, a Emenda Constitucional n. 45/2004 ampliou significativamente o elenco de competências materiais da Justiça do Trabalho, que passou a julgar diversas outras matérias relacionadas com o trabalho humano, direta ou indiretamente (p. ex., conflitos de representatividade sindical, “habeas data” em matéria laboral, impugnação judicial de multas e outras sanções administrativas impostas pela fiscalização do trabalho etc.), mas já não definidas exclusivamente pelo polêmico conceito de “classe”, de que sejam integrantes o autor e/ou o réu (i.e., “dissídios entre trabalhadores e empregadores”, como ditara a redação original do artigo 114, caput, da CRFB). Deu-se a transição de uma competência “a parte subjecti” (= definida pela condição subjetiva das partes) para uma competência “a parte objecti” (= definida pelos valores constitucionais objetivamente em jogo no litígio).
Daí que, já não possuindo uma representação classista (os antigos “vogais”) e tampouco se restringindo a típicos conflitos de classe (capital vs. trabalho), a Justiça do Trabalho já não é mais inerentemente classista, conquanto ainda preserve, é certo, alguns de seus elementos originários (como p.ex. o poder normativo ─ sensivelmente mitigado após a EC n. 45/2004 ─ e toda uma terminologia processual que remonta a 1943, quando não integrava o Poder Judiciário; por isso, p. ex., “reclamação”, e não “ação”, e “reclamante”, e não “autor”…). Não por outra razão, aliás, há quem diga ser a Justiça do Trabalho, hoje, a “justiça comum do trabalho” (p. ex., ANTONIO ÁLVARES DA SILVA).
Na verdade, a maior inquietação relacionada à introdução das justiças “classistas” nas democracias modernas residiu, como ainda hoje reside, na suposta identificação de um perfil ideológico-autoritáriodisseminado entre os magistrados daqueles novos corpos judiciários. E aqui cabe pontuar o que fizemos constar do título: a finalidade institucional dessas justiças torna os seus juízes parciais? Julgam, afinal, de modo paternalista? Em que medida o princípio da proteção − que materialmente derivara da função de imperativo de tutela dos direitos sociais fundamentais − interfere ou pode interferir no próprio processo judicial laboral? É o que tentaremos responder agora.
Com efeito, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a superação histórica dos modelos corporativistas, países que mantiveram justiças classistas de origem corporativa experimentaram, com o passar dos anos, certa desconfiança quanto ao papel que tais estruturas deveriam cumprir nas novas democracias (se é que deveriam cumpri-las). Pelas ligações com o passado político fascista-corporativista, a própria Itália a aboliu, como apontado. No Brasil, por anos a Justiça do Trabalho foi acusada de ser parcial, paternalista e corporativista. E o derradeiro epíteto − não os demais − ainda lhe cabia, ao menos do ponto de vista estrutural, até a abolição das representações classistas, em 1999. Mas, após a “Reforma do Poder Judiciário” (encetada com a EC n. 45/2004), a ampliação das competências materiais da Justiça do Trabalho e a transição de um modelo competencial “a parte subjecti” para outro “a parte objecti” rechaçaram definitivamente tal característica, por já não se tratar nem mesmo de uma organização de serviços públicos adstrita ao atendimento de certa classe social (seja o “operariado”, o “proletariado” ou mesmo os trabalhadores subordinados), como de fato chegou a ser. Atualmente, podem constitucionalmente acorrer às barras da Justiça do Trabalho sindicatos (e.g., artigo 114, III, da CRFB), empresas (e.g., artigo 114, VII), o Ministério Público (e.g., artigo 1º, IV, da Lei n. 7.437/1985), a Fazenda Pública (e.g., artigo 114, VIII), os trabalhadores autônomos (artigo 114, I) e, é claro, ainda os trabalhadores subordinados (que seguem sendo o maior público atendido, mas não por força de critérios normativos de competência). E, é certo, esse novo estado de coisas arrefeceu grandemente os críticos.
Se hoje ouvimos vozes diversas pedindo a extinção da Justiça do Trabalho, ainda desarticuladas – mas aos poucos se articulando −, é certo que, há cerca de vinte anos, esse “clamor” atingiu o seu ponto mais alarmante. No final da década de noventa do século XX, pouco antes da extinção da representação classista, havia grande receio por parte de setores e quadros técnicos do Governo Federal quanto aos efeitos deletérios que uma cadeia de decisões da Justiça do Trabalho em matéria de reajustes salariais poderia provocar na economia doméstica, pela pressão inflacionária decorrente, quando – como agora − a condição econômica do país inspirava cuidados. Havia-se alcançado, há pouco, a tão almejada estabilização econômica com a implementação do chamado “Plano Real”, oficialmente aprovado pela MP n. 434/1994. E logo em seguida, coincidentemente ou não, um senador da República alinhado com o governo iniciou uma contundente campanha pública pelo fim da Justiça do Trabalho no Brasil, acusando-a de obsoleta, paternalista e, acima de tudo, perdulária (naquele tempo, consumiria 3,2 bilhões de reais anualmente; hoje, os acusadores alardeiam 17 bilhões). Por pertencer ao Poder Judiciário da União, deveria ser absorvida pela Justiça Federal comum. Após alguns meses de estrépito, com o apoio das bancadas fieis ao Governo Federal, o finado Senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) conseguiu fazer instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todo o Poder Judiciário (artigo 58, §3º, da CRFB), perante a qual apresentaria, ademais de seus argumentos, uma coleção de dossiês que relatariam casos de corrupção e nepotismo em gabinetes de juízes. Mais tarde, das mesmas bases governistas adveio uma proposta de emenda constitucional que, sob a relatoria de parlamentares do partido do governo (PSDB), realmente extinguia as justiças militares e do Trabalho, além de promover outras várias alterações no sistema judiciário brasileiro. Para além do “enxugamento” da máquina judiciária, outrossim, propugnava-se um controle externo para o Poder Judiciário, esgrimindo-se com os argumentos condensados na célebre indagação do retórico romano Decimus Iunius Iuvenalis (“Quis custodiet ipsos custodes?” – algo como “quem fiscaliza o fiscal?”; ou, para o caso, “quem julga o julgador?”).
Logo, o que hoje vivemos não é de hoje. Nada de novo sob o Sol.
Instaurou-se então, àquela altura, uma grande polêmica nos meios de comunicação social, contraponto os entusiastas da extinção, que verberavam contra o caráter classista e paternalista da Justiça do Trabalho, e as associações de magistrados, que a apontavam como uma importante trincheira institucional da defesa democrática dos direitos sociais. Ao final, a Justiça do Trabalho brasileira sobreviveu. E, de certa forma, ter estado no centro da crise institucional conferiu-lhe o capital político necessário para consumar reformas constitucionais que há muito se vinham reclamando: em 1999, como dito, extinguiram-se as funções de vogal (ou juiz) classista na Justiça do Trabalho; e, em 2004, remodelou-se o seu marco competencial. Do turbilhão que a colheu, a Justiça do Trabalho renasceu mais forte. Nada “classista”. E nada “paternalista”, na acepção classista da expressão. Mas constitucionalista, sim; com toda certeza.
E por que não? O que responde à crítica do paternalismo e da pretensa “parcialidade”?
Importa saber, do ponto de vista jurídico (e não o sociológico, que por agora não nos interessa), o que realmente se pôs a esse respeito.
Não se pode negar à pessoa, mesmo quando investida das funções e prerrogativas judiciárias, a sua condição formativa preexistente, que envolve as suas ideologias e as suas visões de mundo, todas forjadas pelas experiências e pelo lastro cultural que a conduziu àquela posição funcional. “Yo soy yo y mi circunstancia” (ORTEGA Y GASSET)[4]. Uma vez que a leitura “neutra” do sistema jurídico não é humanamente possível, admitir que os juízes julguem de acordo com suas concepções da vida, do justo e do direito − porque de fato assim julgam, como seres humanos que são, e nada jamais se poderá fazer a respeito − é na verdade reconhecer um elemento interno de democratização do sistema judiciário, desde que os mecanismos de ingresso à carreira ou às funções judiciárias sejam igualmente democráticos, recolhendo cidadãos das mais diversas condições culturais e sociais.
Ademais, no específico caso da Justiça do Trabalho, o direito aplicado pelo corpo de magistrados é um direito de cunho tutelar. Aplica-se essencialmente o Direito do Trabalho, que é inspirado universalmente pelo princípio da proteção. Se com o epíteto de “paternalista” quer-se meramente significar “protetivo”, então a Justiça do Trabalho, ao merecê-lo, não faz mais que refletir, nos seus resultados, o valor/princípio imanente ao sistema de direito material que interpreta e aplica. Isso a torna, antes de mais, uma organização judiciária fiel à vontade originária do próprio legislador. Se, por outro lado, o epíteto “paternalista” quiser significar um nível de proteção apelativo e não fundado de pendor unilateral, a disfarçar autoritarismos, então a acusação não procede. Encontram-se julgados e jurisprudências para todos os gostos. E dados do “Justiça em Números” do Conselho Nacional de Justiça, para os anos de 2014 e de 2015, demonstram que as demandas trabalhistas que chegam à Justiça do Trabalho tratam basicamente de verbas rescisórias (i.e., o mais elementar de todos os direitos de um trabalhador demitido): 5,2 milhões de processos em 2014 (43,99% das ações que tramitaram perante a Justiça do Trabalho) e, em 2015, 11,75% da demanda total do Poder Judiciário, sendo praticamente a metade (49%) de todos os casos novos ingressados na JT. Logo, se há aqui muitos “deferimentos”, isto dirá muito mais com os elevados níveis de sonegação de direitos sociais rescisórios – seja pelas dificuldades econômico-financeiras das empresas, seja ainda pela cultura mesma da negação dos direitos alheios (ou o famoso “vá procurar seus direitos”…) −, e muito menos com qualquer paternalismo travestido de jurisprudência criativo.
E o que afinal se teme de juiz “social” paternalista ─ e não apenas do juiz do Trabalho, mas também do juiz ordinário encarregado de julgar questões de direito social (Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito da Assistência Social etc.)? Teme-se que, insuflado por ideias vagas como “justiça social” ou “igualdade material”, ignore sistematicamente a lei posta pelo Poder Legislativo e decida “contra legem”, sem referências normativas externas, ressignificando a ordem jurídica a pretexto de realizar valores e princípios que em realidade materializam apenas a sua ideologia pessoal, sem qualquer base normativa real. O magistrado autoritariamente substituiria valores que a sociedade democraticamente consagrou pelos seus próprios, sem apoio autêntico na ordem jurídica em vigor (quando muito, apenas retórico), abjurando a sua missão constitucional.
Esse perigo existe? Decerto que sim. Mas debelá-lo significa optar por um legalismo acrítico, tributário da figura do “juiz-boca-da-lei”, que não interprete para além do texto literal da legislação e que não “contamine” a sua decisão com princípios e valores? Decerto que não.
O que afinal define os limites aceitáveis para um balizamento sistêmico e objetivo das decisões judiciais, apto a prevenir decisões puramente apaixonadas e violações às garantias da imparcialidade e da legalidade − mesmo quando se admitem cores no espectro de visão dos vários corpos de magistratura (que é, de fato, caleidoscópico) – é a chamada “ideologia constitucional”, ou seja, a “visão de mundo” (“Weltbild”) ditada pela própria Constituição, a que corresponde o “plano estrutural normativo de configuração jurídica de uma comunidade” (HOLLERBACH)[5]. No dia-a-dia forense, tais limites constroem-se objetiva, racional e argumentativamente, por aproximações sucessivas, a partir da atividade jurisprudencial dos tribunais, com as garantias dialógicas próprias do sistema judiciário. No fim, “uma ponderação é racional se o enunciado [de decisão] preferencial pode ser fundamentado racionalmente”, a partir do texto constitucional (ALEXY)[6]. É isto – e apenas isto – que se pode/deve exigir de todo juiz (e, inclusive, do juiz do Trabalho). Não se pode exigir que ignore as suas próprias percepções de justiça ou a sua própria visão de mundo; isto sequer seria possível ou natural. Mas se pode exigir que o juiz demonstre, em todo caso, que a solução justa pode ser racionalmente extraída do sistema jurídico, a partir do texto (ou do contexto) constitucional e, sucessivamente, das demais fontes formais do Direito.
****
Por hoje, é isto, caro leitor. Para um tema tão complexo e polêmico, achei por bem trazer algo mais extenso e aprofundado. Se fugi ao padrão, escuso-me.
A ideia final, porém, tratarei de resumi-la a seguir, para quem compreensivelmente não tenha lido todo o mais acima; afinal, todo excesso será sempre castigado com proporcionais doses de preguiça.
Pode-se apontar uma origem corporativista e uma estrutura classista na evolução histórica da Justiça do Trabalho. Não se pode negar, porém, que, ao longo de mais de setenta anos, a Justiça do Trabalho brasileira soube se reinventar. Presta seguramente uma jurisdição diferenciada, que agrega uma refinada visão humanista, de matriz constitucional – essa por vezes acusada de “paternalista” −, ao arcabouço legislativo que informa o Direito do Trabalho brasileiro.
Se já não existir a Justiça do Trabalho, as causas trabalhistas serão examinadas por juízes comuns, geralmente pouco afetos àquele mesmo Direito do Trabalho (ramo dogmático que se tornou independente do Direito Civil nos albores do século XX e que, exatamente por isto, não pode ser interpretado/aplicado sob os mesmos pressupostos). Afinal, o Direito do Trabalho tem uma “genética” muito peculiar, que não permite qualquer concessão substancial em relação à estrita proteção da pessoa – por isso é (ou deve ser), ao lado do Direito Penal, o que mais proximamente orbita a teoria geral dos direitos humanos – e de primazia da realidade.
Dissociar Justiça do Trabalho e Direito do Trabalho pode resultar em muitas coisas. É possível afirmar, inclusive, que o fomentar dessa “cegueira deliberada” possa atender a alguns interesses setoriais (como, p. ex., o de instilar um tratamento judiciário hermeneuticamente mais “gentil” para com os interesses econômicos da empresa, mesmo diante da violação dos direitos sociais de seus contratados). Mas será civilizatório? Representará a “modernidade”, em uma acepção que não se embriague de oitocentismos? Será bom para você? E para a sociedade?
A modernidade do século XVIII, do Estado mínimo que não interfere em relações contratuais, nós já a conhecemos muito bem. Trouxe greves, protestos, violência e convulsões sociais. E resultou… no Direito do Trabalho.
Pense. Você é réu do seu juízo.
*******
E então, há algum tema do Direito, da Política ou da Economia que pareça merecer um olhar “diferente”? Sugira-nos. O e-mail está abaixo. Em quinze dias: abuso de autoridade. O PLS n. 280/2016 virá para o bem?
———————————-
[1] V. MIRANDA, Jorge. “A Constituição e a Democracia Portuguesa”. In: Revista Crítica Jurídica. Curitiba: UniBrasil, jan./dez. 2005. n. 24. pp.229-23.
[2] O julgado, de 13.07.1943 (anterior, portanto, à Constituição de 1946), contou com a seguinte ementa: “Cabível o recurso extraordinário da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, em matéria constitucional. Não se conhece do recurso quanto fora dos incisos do art. 101, n. III da Carta Constitucional”. Ora, essas eram hipóteses de decisões judiciais (“causas decididas pelas Justiças locais em única ou última instâncias”) que tem tese contrariassem o texto constitucional. Ademais, após assentar que a questão já havia sido apreciada em precedentes do STF (no mesmo sentido), assim registrou o relator: “Por mim, sempre sustentei o caráter especial característico da Justiça do Trabalho, sem lhe recusar, contudo, na sua fase definitiva, a feição judiciária, reconhecendo nos seus membros organizados verdadeira magistratura. […] Não reconhecida embora pela Constituição de 1937, como não o fôra pela de 1934 como um dos órgãos do Poder Judiciário, não se lhe poderá recusar missão idêntica à dos tribunais ordinários, quando chamada a decidir, a dirimir as questões especializadas, com feição peculiar, entre empregados e empregadores, dentro dos limites traçados pela legislação do Trabalho nas atribuições da sua Justiça. […] Não importa asseverar com Francisco Campos que o legislador constituinte de 1937 a haja reconhecido como fazendo parte integrante do Poder Judiciário ou com Cesarino Junior, que ela é órgão especial desse poder. […] O certo é que ela exerce autoridade jurisdicional, traçada por suas leis. […] Não haverá, portanto, recusar a essa Justiça a solução de todos os dissídios contidos na ordem e natureza das relações jurídicas entre empregados e empregadores, pleiteados por todas as formas e competentes recursos, dentro da sua organização. […] Se a unificação das leis federais é a razão de ser no recurso extraordinário, criado pela Constituição Federal, reconhecendo que ao Supremo Tribunal cabe essa função de defesa da Constituição, não haverá sob pretexto de fórmulas meramente gramaticais, recusar essa exclusividade em se tratando da Justiça do Trabalho” (2ª T., rel. Min. GOULART DE OLIVEIRA [g.n.]).
[3] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, São Paulo, LTr, 2005, pp.124-125.
[4] ORTEGA Y GASSET, José. Meditaciones del Quijote. Madrid: Catedra, 1984. passim.
[5] HOLLERBACH, Alexander. “Ideologie und Verfassung”. In: MAIHOFER, Werner Ideologie und Recht. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1969. pp.37-46.
[6] ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996. p. 144. No original: “[…] Eine Abwägung ist rational, wenn der Präferenzsatz, zu dem sie führt, rational begründet werden kann”.
*Guilherme Guimarães Feliciano - juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, é professor associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Livre-docente em Direito do Trabalho pela USP. Vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), gestão 2015-2017.