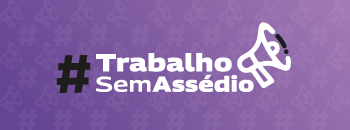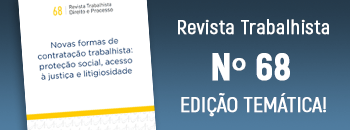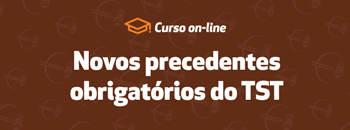A Magistratura precisa do ser humano? Ou, mais, ela deve precisar?
Guilherme Guimarães Feliciano - para o site Jota
Na quinta-feira (16/02) realizou-se na Câmara dos Deputados a primeira audiência pública acerca do PL n. 6.787/2016, que trata da reforma trabalhista (já examinamos algo dela nesta coluna: “‘Novidades’ da Reforma Trabalhista”). Na presença do relator, o Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, criticou acidamente a jurisprudência “insegura” da Justiça do Trabalho, às raias da inconsequência, e enalteceu a importância do projeto, apto, segundo S.Ex.ª, a reduzir os excessos de “ativismo judicial”. Encerrou sintetizando o seu pensamento com a seguinte frase: “Para um Brasil maior, um Estado menor”. Noutra ocasião, o Presidente do TST já havia dito, a respeito da corrente que congrega magistrados críticos à reforma trabalhista, que “o juiz tem de ter o juízo da consequência”; e que, sendo “ativista” – “tem muitos colegas meus que entendem que a Justiça tem de resolver todos os problemas” −, o juiz “acaba mais desestruturando a economia do que ajudando”.
Mas afinal, o que é esse tal de “ativismo judicial”, caro leitor? Ele é realmente uma distorção do sistema? Um mal necessário? Ou necessariamente um mal? Morde ou engorda?
Vamos por partes.
O debate em torno do ativismo judicial não é novo. E sequer é originalmente nosso. A expressão talvez possa ser melhor compreendida no contexto norte-americano, em que a ideia de “judicial activism” muitas vezes se opõe, quase antinomicamente, à de “judicial restraint” (modalidade de interpretação/aplicação das fontes formais pela qual os juízes tendem a não afastar a aplicação das leis ou dos precedentes aos casos que estão a julgar, senão quando neles vislumbrar flagrantes inconstitucionalidades; nesses termos, guiam-se pela natural presunção de constitucionalidade que deriva de toda legislação democraticamente aprovada, em “solene” respeito à independência dos poderes da República).
A locução “ativismo judicial” então designará, com certa aura pejorativa – e aqui sigo de perto Christopher WOLFE no seu mais conhecido e instigante título (Judicial activism: Bulwark of freedom or precarious security? Lanham: Rowman & Littlefield, 1997) −, toda a atividade judicial de que derivem decisões inspiradas menos nos elementos intrassistemáticos do Direito (por exemplo, naquilo que propriamente “integra” o sistema jurídico-positivo) e muito mais nas convicções políticas ou pessoais do magistrado, que não têm respaldo evidente naqueles elementos. Subvertendo a máxima do Federalist n. 78, o juiz “ativista” exercitaria mais “will” (= vontade ou arbítrio) e menos “judgement” (= julgamento ou juízo). A partir dessas convicções políticas, as cortes contemporâneas estariam criando “novos” direitos e liberdades, do que derivaria para o cidadão, por um lado, grandes esperanças para os casos de inação dos poderes essencialmente políticos (Executivo e Legislativo); mas, por outro, a insegurança de saber que juízes podem restringir direitos seus sem base certa ou imediata nas leis.
De nossa parte, cremos que é possível extrair, do atual sistema constitucional, plena legitimação para uma atuação “criativa” dos juízes, i.e., para a assimilação conceitual e funcional da ideia de que, nas palavras de ROSINETE LIMA, “[a] interpretação e a criação judiciais não são […] atividades antitéticas, já que o juiz, ao trabalhar com as normas, acaba por reproduzi-las, aplicá-las e realizá-las em novo e diverso contexto, de tempo e lugar”, de modo que “[a] garantia do devido processo legal aí se insere para servir de um canal para que valores e interesses não-protegidos pelo legislador [mas constitucionalmente tutelados] possam penetrar no sistema jurídico” (LIMA, Maria Rosynete Oliveira. Devido Processo Legal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999). O devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) – nas suas acepções substantiva e procedimental – será, pois, o fiel da segurança jurídica. E, já por isso, falamos em uma tripartição integrada ou interagente dos poderes da República (v. o nosso “Inflexões do ‘due process of law’ na tutela processual de direitos humanos fundamentais”. São Paulo: LTr, 2016). Mas isso é outra história. Tentemos compreender, na coluna de hoje, o que se tem passado no Brasil, a partir de um caso paradigmático.
Pois bem. Cabe então indagar: por que a Justiça brasileira – e especialmente a Justiça do Trabalho – é acusada de “excesso de ativismo”? O que revela tais excessos.
Talvez o caso mais emblemático de “ativismo” na Justiça do Trabalho, ao menos no imaginário popular, seja o caso Embraer, ocorrido em São José dos Campos/SP, em 2009. Vamos recordar?
Em 19 de fevereiro de 2009, cerca de 4.200 trabalhadores foram demitidos pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A e pela Eleb Equipamentos Ltda (i.e. Embraer/Liebherr, responsável pela fabricação de trens de pouso), ao argumento de que a crise econômica mundial daquele biênio (2008/2009) havia afetado seus contratos com compradores estrangeiros, diminuído as encomendas de aeronaves e, assim, comprometido a sua capacidade de pagamentos. Os sindicatos, ao revés, sustentaram que a demissão estaria associada às perdas sofridas pela Embraer em especulação financeira ensaiada pela empresa para incrementar seus lucros em arriscada e malsucedida operação na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Argumentaram, mais, que, logo após a dispensa, a Embraer estaria submetendo seus empregados a jornadas de trabalho extenuantes, o que demonstraria não ter havido a alegada queda de faturamento, nem tampouco a afirmada redução nas encomendas de aviões.
É certo, no entanto, que a Consolidação das Leis do Trabalho não possui dispositivo a impedir textualmente o empresário de promover dispensas coletivas imotivadas, ainda que o faça pelas mais vis razões, sobrepondo a sua ganância às necessidades de subsistência dos trabalhadores demitidos e de suas famílias. Só a partir da conjugação de princípios constitucionais e legais – que também são norma jurídica − é possível extrair limitações a esse “direito” de demitir (e digo assim, entre aspas, porque a doutrina dominante tem reconhecido a resilição do contrato de trabalho por iniciativa do empregador como um seu “direito potestativo”, imanente ao próprio direito de propriedade e exercitável a seu bel-prazer).
E o que fez o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região? Após medida liminar de 27/2/2009, que suspendeu todas as demissões realizadas no dia 19, a Seção de Dissídios Coletivos prolatou acórdão inovador, calcado essencialmente nos fundamentos constitucionais da República (como o do valor social do trabalho e o da dignidade da pessoa humana) e em princípios infraconstitucionais (como o da boa-fé objetiva), para assentar que a Embraer deveria arcar com o plano familiar de saúde dos seus dispensados, pelo período de 12 meses, como ainda deveria pagar uma indenização adicional de duas remunerações mensais para cada demitido, respeitado o teto de R$ 7.000,00, além das próprias verbas rescisórias. Ademais, as empresas deveriam pagar aos demitidos todos os salários do período compreendido entre 19/2 e 13/3 (data da audiência de conciliação). Reconhecia-se, portanto, a ilicitude das dispensas coletivas consumadas nesses moldes.
Não satisfeito, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região ingressou com recurso ordinário contra as empresas perante a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST. E, na votação final, a SDC/TST entendeu que as dispensas coletivas, diferentemente das individuais, realmente exigiriam a observação de normas específicas, conquanto não decorrentes diretamente das leis ordinárias em vigor. Entendeu-se, com efeito, que, em sede de direito coletivo do trabalho, o predito “direito potestativo” de dispensar conheceria atenuações, exigindo, p. ex., a prévia negociação com os sindicatos de trabalhadores. Não se determinou a reintegração, mas foram mantidas as indenizações adicionais, proporcionais ao tempo de serviço de cada demitido, e, bem assim, definiu-se, para os casos ulteriores (não para aquele próprio – o RODC n. 309/2009-000-15-00.4), a obrigação de a empresa entabular prévias negociações com os sindicatos profissionais antes de realizar demissões coletivas. Nos termos da ementa,
[a] ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do (s) respectivo (s) sindicato (s) profissional (is) obreiro (s). Regras e princípios constitucionais que determinam o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente do emprego (arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da propriedade à sua função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as dispensas massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou no plano do processo judicial coletivo. A d. Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros , de que “a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores”, observados os fundamentos supra.
Nada disso, porém – nem a indenização adicional proporcional ao tempo de serviço dos irregularmente demitidos, nem o princípio −, decorre de textos legais explícitos. A solução derivou de construções jurisprudenciais baseadas no texto constitucional, nos textos de convenções da Organização Internacional do Trabalho (nomeadamente, as Convenções ns. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, algumas sequer ratificadas pelo Brasil) e em normas-princípios que tanto estão afetas ao Direito do Trabalho (como o princípio da proteção) como ao Direito Civil (como o da boa-fé objetiva e o da vedação do abuso de direito).
A questão hoje está submetida ao supremo escrutínio do STF (ARE n. 64765). Em sede de recurso extraordinário, a Embraer e a Eleb alegaram que a decisão do TST violou diversos dispositivos constitucionais; pontuaram, mais, que o TST, ao criar condições para a dispensa em massa, estaria atribuindo ao poder normativo da Justiça do Trabalho tarefa que a Constituição reserva à lei complementar (art. 7º, I, CF, quanto à proteção contra as dispensas arbitrárias ou sem justas causas). A máxima corte trabalhista teria, pois, invadido a esfera da competência do Poder Legislativo; e, ao fazê-lo, estaria interferindo indevidamente no poder de gestão dos proprietários da empresa, violando o princípio da livre iniciativa. Menos Estado, portanto… supostamente para um Brasil maior. O TST inadmitiu a remessa do recurso, mas as empresas interpuseram agravos de instrumento que foram, ambos, providos pelo relator no STF, Ministro Marco Aurélio Mello, que na sequência submeteu o processo ao Plenário Virtual do Supremo e ali validou seu entendimento de que o assunto não apenas é constitucional, como também detém repercussão geral. Isto se deu em abril/2013; e, desde então, aguarda-se definição.
Mas o que realmente importa lembrar, nessa nossa reflexão, é o fato de que, desde a primeira decisão, ainda no TRT da 15ª Região, o Judiciário trabalhista foi fortemente criticado, na grande mídia, pela sua intervenção “ativista”.
Assim, p. ex., em editorial do dia 5/4/2009, a Folha de S. Paulo censurou fortemente a decisão do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para o caso Embraer, como a do vice-presidente do TRT da 3ª Região, para o caso Usiminas, porque ambas já condicionavam a formalização de dispensas massivas e abruptas de trabalhadores à prévia tentativa de negociação e à apresentação de balanços patrimoniais. Seria puro “ativismo judicial”, já que a lei nada dispunha a respeito; e, portanto, o que se decidiu não poderia ser decidido.
Lego engano. E dissemos isto à época, na própria Folha de S. Paulo.
A rigor, decisões judiciais que condicionam dispensas coletivas à prévia negociação coletiva e à demonstração contábil das alegadas dificuldades econômico-financeiras não derivam “apenas” nas ideias de dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (Constituição, art. 1º, II e IV). O artigo 7º, I, da Constituição dispõe explicitamente ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”. A questão é: se o Legislativo não legislou onde e quando deveria legislar, não pode o Judiciário, em casos extremos – que envolvam direitos fundamentais −, “suprir” essa omissão para resguardar a integridade da ordem constitucional? Não é o que o Supremo Tribunal Federal faz, nas ações de inconstitucionalidade por omissão ou nos mandados de injunção? Em circunstâncias de grave crise de um bem jurídico constitucionalmente tutelado, não poderiam os demais órgãos do Poder Judiciário, inclusive em sede de controle difuso de constitucionalidade, também fazer tais integrações, embora sem caráter vinculante (i.e., para outros órgãos judiciais) ou efeitos “erga omnes” (i.e., para outras pessoas que não autores e réus)?
Entendemos que sim.
A própria Constituição de 1988 é bem clara ao dispor que a tal “indenização compensatória” do art. 7º, I, CF (que, na prática, corresponde hoje à indenização de 40% sobre o FGTS em caso de dispensa imotivada) é apenas uma das garantias gerais do empregado contra as dispensas arbitrárias. E, tratando-se aqui de direitos sociais fundamentais, vale sempre invocar a norma do artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”.
Então, se a própria Constituição autoriza o reconhecimento de direitos decorrentes dos princípios perfilhados pelo sistema jurídico brasileiro − entre os quais o da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, II), o do valor social do trabalho (CF, art. 1º, IV), o da continuidade da relação de emprego (CF, art. 7º, I), o da vedação do abuso de direito (Código Civil, art. 187), o da boa-fé objetiva (Código Civil, art. 422) -, qual a impropriedade de o tribunal julgar com base em tais princípios, derivando deles condicionalidades que, se não previstas textualmente na lei ordinária, estão em consonância com o sistema constitucional?
Alguém dirá que uma dispensa coletiva promovida só para preservar a margem de lucro da empresa, sem nenhuma transigência com o valor-trabalho e a pretexto de perdas financeiras que não se documentam (falo, aqui, em tese), não será uma dispensa abusiva? E, se abusiva, não vai além da mera “dispensa arbitrária” (à qual tem direito o empregador individual), desafiando o controle da Justiça do Trabalho? Fosse você, leitor, o juiz, e reconhecesse a injustiça de uma situação como essa, e se tivesse ao seu alcance preceitos constitucionais ou legais que lhe permitissem deduzir uma solução concretamente mais justa, conquanto de baixa densidade normativa (i.e., com elevado grau de abstração e baixo grau de determinabilidade, lembrando o grande CANOTILHO), deixaria de fazê-lo em virtude do silêncio da legislação infraconstitucional? Você acha que esse é o papel do juiz? Promover a solução mais justa, a partir da sua intervenção (e da sua visão), apenas quando isso for tão óbvio quanto a literalidade da lei?
Como dissemos outrora, já não se pode mais interpretar a Constituição pelas lentes míopes das leis, como se o legislador fosse o único intérprete autorizado do texto constitucional. Manda a boa hermenêutica contemporânea que se interpretem as leis conforme a Constituição; não o contrário. Eis aqui, afinal, o princípio da supremacia da Constituição, tão referido e enaltecido desde 1803, com a conhecida sentença do juiz MARSHALL no caso Marbury x Madison. Se a lei é contrária à Constituição, deve ser expungida do sistema; e, se a lei admite variegadas interpretações, deve-se optar pela interpretação mais consentânea com a vontade da Constituição; se a lei é lacunosa, enfim, deve-se completá-la com os princípios constitucionais. Não por outra razão, aliás, todo juiz, quando toma posse de seu cargo, jura cumprir a Constituição e as leis. Não será à toa a precedência da lei maior…
Isso tudo é “ativismo”? Não sei. Depende do que se entenda por ativismo. Se for, o Supremo Tribunal Federal é quem mais o pratica: basta ver suas decisões em tema de aborto de feto anencefálico (STF, ADPF n. 54/DF), delimitação de terras indígenas (STF, Petição n. 3.388/RR), experimentação com células-tronco embrionárias (STF, ADI n. 3510/DF), uso de algemas (STF, Súmula Vinculante n. 11), união homoaetiva (STF, ADI n. 4277/DF, ADPF n.132/DF), aviso prévio proporcional (STF, MI ns. 943, 1010, 1074 e 1090 − essas interrompidas pela edição da Lei n. 12.506/2011) etc. Tudo a partir do texto constitucional, “completando” ou mesmo “corrigindo” os textos legais. Anda mal? Penso que não.
A decisão judicial não se calcula, prolata-se. Talvez se aproxime mais de um poema, em que se busca a melhor harmonia entre a linguagem e o sentimento profundo que se quer expressar, do que de uma equação aritmética, que tende a ser tão exata quanto fria. A sentença judicial exige, por evidente, imenso domínio técnico dos pressupostos do sistema jurídico e de todos os seus instrumentos de decisão (princípios, regras, institutos); mas também exige elevada sensibilidade. E o que o Magistrado tem a oferecer, como ser humano que é, é sobretudo a sua sensibilidade. O compêndio objetivo da totalidade das informações do direito objetivo e de todas as suas combinações possíveis poderão ser um dia – se é que já não são – operados a partir de um software. Não estamos realmente longe disto. Então, a verdadeira pergunta a se fazer é: a Magistratura precisa do ser humano? Ou, mais, ela deve precisar?
E então, amigo leitor? Qual é a sua resposta?
Bem disse a “finada” – e saudosa – banda Karma, na canção “Você pode ir além”: você é réu do seu juízo…
*******
Que tal a coluna? Há algum tema do Direito, da Política ou da Economia que pareça merecer um olhar “diferente”? Sugira-nos. O e-mail está abaixo. Na quinzena que vem: liberdade sindical. Temos, não temos, o quanto temos?
Guilherme Guimarães Feliciano - Juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, é professor associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Livre-docente em Direito do Trabalho pela USP, Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.