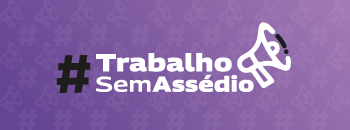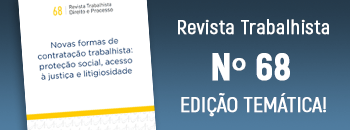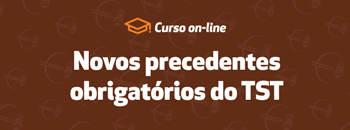Estariam também absorvidas na nova competência da Justiça do Trabalho as chamadas relações de consumo?
Essa pergunta envolve outra: o que são relações de consumo?
Numa definição bem rasteira, são relações que envolvem o consumidor e o fornecedor. Mas o que é consumidor? O CDC responde:
“(...) é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o.)
Assim, pode a relação de consumo envolver um serviço, um trabalho; mas desde que o consumidor seja o seu “destinatário final”.Um exemplo muito citado é o motorista de táxi. O “freguês” ou cliente seria o último destinatário de seus serviços.
A rigor, porém, até mesmo o empregador é o “destinatário final” ou único da força-trabalho. É só ele quem a consome, pelo menos diretamente, utilizando-a para acrescer valor ao produto e ao mesmo tempo extrair o seu lucro. Ele a usa para si, tal como fazemos em relação ao mecânico que conserta o nosso carro ou ao armazém que nos vende o espaguete.
Quando compramos uma lata de óleo ou mesmo um ingresso para o cinema, o que nós, pessoas comuns, consumimos, são apenas as mercadorias produzidas pelas mãos do trabalhador. Apenas indiretamente consumimos a sua força-trabalho, embutida no interior dessas mercadorias.
Na verdade, a diferença entre a relação de trabalho e a relação de consumo que envolve trabalho está mais na forma como este é utilizad como valor de uso (o que acontece em todas aquelas situações), ou também como valor de troca (o que ocorre apenas na relação de emprego ou em hipóteses análogas).
Quando usada (também) como valor de troca, ou seja, como mercadoria destinada a produzir mercadorias, a força-trabalho se integra à cadeia produtiva. O que importa, assim, não é propriamente a destinação do trabalho, mas a dos produtos que o trabalho constrói. Vista a questão sob o ângulo subjetivo, o que faz a diferença é a qualidade (de capitalista ou não) do destinatário, ao usar a força-trabalho.
Pergunta-se: essa diferença justificaria uma quebra nas regras de competência?
Como sabemos, as relações de consumo se sujeitam a regras próprias, que à primeira vista nada têm a ver com o Direito do Trabalho. Até o princípio que as informa parece invertido. O CDC protege o consumidor; a CLT, o trabalhador.
No fundo, porém, a diferença não é tão grande. O que fez nascer o Direito do Trabalho foi basicamente o mesmo fenômeno que gestou o Direito do Consumidor.
De fato, a raiz de tudo foi a perda, por parte da classe trabalhadora, dos meios de produção. A partir de então, os que antes trabalhavam para si tiveram de vender a sua energia para os outros; e, ao mesmo tempo, comprar dos outros o que antes fabricavam também para si.
No início, os trabalhadores tentaram fazer frente a essa dupla dependência, que os transformava ao mesmo tempo em vendedores e compradores – e os submetia ao capitalista em suas duas versões, enquanto industrial e enquanto comerciante.
Contra a dependência da fábrica, surgiu, por exemplo, o anarco-sindicalismo, que lhes prometia não só a retomada dos meios de produção, mas a própria gerência da sociedade.
Contra a dependência do comércio, o melhor exemplo aconteceu em Rochdale, na Inglaterra, onde 28 tecelões lançaram as bases do cooperativismo.
Como sabemos, essas duas frentes de luta não chegaram a abalar as estruturas do capitalismo – mas fizeram brotar, em momentos diferentes, aquelas duas novas versões do Direito.
Primeiro veio o Direito do Trabalho. Muito tempo depois, o do Consumidor. Nem um, nem outro, querem acabar com a dependência de contratar, pois ela é da essência do sistema ao qual pertencem. Mas pelo menos tentam equilibrar o conteúdo dos contratos, compensando a falta de liberdade com um pouco de igualdade.
Desse modo, em última análise, ambos socorrem as mesmas pessoas, em face das mesmas pessoas. Em outras palavras, protegem o trabalhador em suas duas versões - a do homem que vende e a do homem que compra, por não ter alternativa. Atuam nos dois momentos de sua existência diária, ou mais precisamente dentro e fora da fábrica.
É claro que há consumidores que não são trabalhadores, ou seja, não são dependentes economicamente – como também existem, no plano da relação de emprego, os grandes especialistas, os altos executivos e os craques de futebol. Mas em geral as posições coincidem. Ao sair da fábrica, o operário reencontra o capitalista, já agora vestido de comerciante.
Assim, a grande massa dos que consomem as mercadorias comuns é formada de trabalhadores mais (ou menos) fragilizados. E nem poderia ser diferente, já que eles compõem a imensa maioria da população. Já os que não são consumidos também não consomem: são os que dormem debaixo das pontes e se alimentam de lixo, excluídos do sistema capitalista e não incluídos em qualquer outro.
Mas se a regra geral é a coincidência entre o trabalhador e o consumidor, assim não acontece quando o que se consome é a força-trabalho – seja ou não na condição de mercadoria, vale dizer, esteja dentro ou fora do circuito econômico.
No primeiro caso, o consumidor é um empresário, é um empregador. No segundo, é o público, mas não o público em geral, e sim uma certa espécie de público, formada basicamente por quem pode se dar o luxo de usar o trabalho alheio para aumentar o seu tempo livre.
Os exemplos do chofer de praça, do engraxate, do servente, do professor particular, do personal training e talvez até os do barbeiro e do pedreiro são pouco freqüentes entre as pessoas mais pobres. Por isso, provavelmente, quem precisa de proteção, na maioria dessas situações, não é o consumidor, mas o fornecedor.
Assim, parece interessante dar a esses trabalhadores o acesso à Justiça do Trabalho. Em grande parte das vezes, eles serão tão dependentes, em termos econômicos, quanto os empregados comuns. Ou até mais, talvez. O fato de seu trabalho não ser usado como mercadoria não o torna menos digno de proteção.
Talvez fosse o caso de se afastar os melhor situados – como o arquiteto que faz a planta da casa ou o grande médico que opera em sua clínica. Mas então, por coerência, deveríamos defender a exclusão dos altos empregados. De todo modo, essa discussão é quase irrelevante: casos como esses serão raros e não faz diferença se o seu julgamento se der aqui ou ali. O importante mesmo é que a Justiça do Trabalho alcance os que – vivendo de seu trabalho - precisam de proteção, dentro ou fora da relação de emprego.
Aliás, é bom notar que há relações de emprego que são substancialmente de consumo, embora o CDC as exclua desse rol - como acontece com o trabalho doméstico. Ora, não faz sentido levar ao juiz do trabalho as causas entre a cozinheira e a patroa, e ao mesmo tempo excluir os conflitos que envolvem o eletricista e a família que o contrata eventualmente. E o que não dizer, então, da diarista, que a corrente dominante insiste em não considerar empregada?
A vantagem desse deslocamento de competência está em que o juiz do trabalho tem um olhar mais sensível para as questões sociais. Além disso, é mais experiente, mais ágil e menos formalista. Em seus julgamentos, terá melhores condições de aplicar a essas relações não só os novos princípios do Direito Civil, mas até mesmo, conforme o caso, algumas proteções tipicamente trabalhistas.
É verdade que a grande importância das novas regras de competência é a de atrair para a Justiça do Trabalho a multidão crescente daqueles trabalhadores não-empregados e ainda assim explorados pelo novo modo de produzir. São os que a doutrina italiana chama de autônomos de segunda geração, já que (paradoxalmente) dependentes.
No entanto, o ideal seria que a Justiça do Trabalho (à espera de /ou já construindo um novo Direito) pudesse abraçar, sem preconceitos, também os eventuais, os biscateiros, os ambulantes, os engraxates, as prostitutas e todos os outros que trabalham por conta alheia, ainda que às margens do processo produtivo. Mesmo porque eles já não formam, necessariamente, categorias à parte; são possibilidades presentes numa mesma vida, ou, se preferirmos, recortes de vida de uma mesma pessoa: o trabalhador em pedaços do novo milênio.