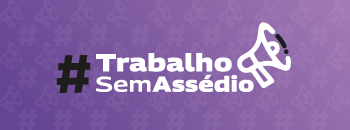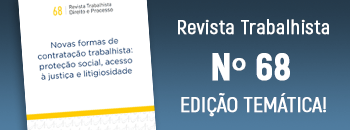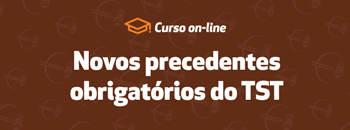A Medida Provisória n. 936, de 1º. de abril de 2020: uma outra visão. Acordo coletivo sui generis no ambiente da refundação constitucional do Direito do Trabalho.
Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Membro Titular da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT).
“… E assim, desses quatro elementos referidos podemos deduzir a definição da lei, que não é mais do que uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada pelo chefe da comunidade.”. (Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, 90, 4).
“ ... Doctrinae quidem verae esse possunt, sed auctoritas non veritas facit legem. … (Thomas Hobbes, Diálogo entre um filósofo e um jurista)2.
Editou o Excelentíssimo Senhor Presidente da República a Medida Provisória em título, a qual institui o “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” e dispõe sobre outras medidas para enfrentamento da calamidade sanitária provocada pela chamada Covid-19. A aludida medida provisória, apesar do título que a encima, traz em seu bojo a previsão de diversas possibilidades de redução de salários de empregados através de acordos individuais ou coletivos, tendo como contrapartida a concessão pelos empregadores de garantia de emprego pelo mesmo período de tempo que durar a redução após o encerramento do período de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020. Não é intenção deste escrito fazer uma análise de cada uma das disposições estabelecidas na aludida medida provisória, mas antes examinar o seu quadro geral à luz do pensamento juslaboralista e tecer algumas reflexões sobre a natureza de alguns institutos aparecidos com a dita norma emergencial. Faz-se-lo mais de uma quinzena após a sua edição e tendo já havido decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI-MC- 6363, em favor da constitucionalidade dessa medida provisória e com o benefício de toda essa reflexão sobre a matéria, mas antes querendo crer que seja possível um outro olhar, distinto dos argumentos em geral até então aventados. Mais especificamente, cogita-se de uma outra visão sobre o ponto central da polêmica erigida à volta da medida em questão, que é a discussão sobre a constitucionalidade ou não da pactuação individual de redução salarial pelo empregado com o empregador e da necessidade ou não de participação sindical nessa avença.
2 A citação é feita na forma original em latim, mas há tradução recente para o vernáculo: HOBBES, Thomas. Diálogo entre um filósofo e um jurista, trad. de Maria Cristina Guimarães Cupertino. 2ª ed. São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 37.
Houve já oportunidade de destacar que o país se acha num período histórico de refundação constitucional, sobretudo na seara juslaboralista3. Diversas normas vêm sendo editadas, ao menos desde o ano de 2017, alterando os vetores centrais que governam o Direito e o Processo do Trabalho. Note-se que a Lei n. 13.467/2017 procedeu a grande reforma nesta seara, instituindo, sobretudo, a possibilidade de prevalência do chamado critério negociado sobre o legislado em determinadas matérias, além de abrir espaço para a pactuação individual de certas relações de trabalho, como nos denominados trabalhadores hipersuficientes, ou instituir figuras mais precárias de trabalho, como aquele intermitente, sem falar na aproximação do processo do trabalho ao processo civil, com a assimilação dos honorários advocatícios da sucumbência. Medida ainda mais aprofundada de alteração desses vetores veio antes com a Lei n. 13.429/2017, reformando a redação da Lei n. 6.019/1974, para ampliar as hipóteses de contratação temporária de trabalhadores no país, além das hipóteses de terceirização, praticamente universalizada e em contraposição direta à regra fundante do Direito do Trabalho, que é a proibição de tratar o trabalho humano como mercadoria, instituída no art. 427, do Tratado de Versalhes, norma de fundação da Organização Internacional do Trabalho e à qual o Brasil se obrigara na ordem internacional. Desnecessário mencionar mais um largo passo nesse quadro com normas como a Medida Provisória n. 905/2019, agora em análise no Congresso Nacional e em vias de perder sua vigência, caso não venha a ser aprovada.
O Supremo Tribunal Federal, por sua jurisprudência e em linhas gerais, com ressalva de alguns posicionamentos divergentes, parece não ser contrário a essa tendência do legislador. Tanto é correta essa avaliação que, no sensibilíssimo tema da terceirização, o Excelso Pretório terminou por editar o Tema n. 725, que consagra a licitude da terceirização da chamada atividade-fim da empresa tomadora de serviços, mantida ao menos a responsabilidade subsidiária desta, criação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, depois acolhida pela mencionada Lei n. 13.429/2017. Ocioso seria relacionar outros tantos assuntos, já todas as decisões tão notórias, em que a atuação da Corte Suprema veio em abono dessa tendência de refundação do Direito do Trabalho na ordem constitucional, como no caso da extinção da contribuição sindical compulsória, da responsabilização dos entes públicos nos contratos de terceirização de serviços, da validade das normas coletivas em transação para adesão a planos de dispensa coletiva, ou outras tantas matérias, inclusive mais esta da MP n. 936/2020, que vem de ser confirmada pela maioria daquela Corte. Quase sempre a Suprema Corte lê as novas normas sob o pressuposto de uma democracia liberal, em que preponderam os valores da liberdade de iniciativa e da autonomia individual de vontade, compreendendo também a atuação das entidades sindicais e os institutos do Direito do Trabalho sob essa ótica, sem negligenciar uma visão pós-positivista do Direito Constitucional.
3 A referência é ao meu “Uma nova Constituição do Trabalho?”, in Estudos sobre a Reforma do Direito e do Processo do Trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
É importante sublinhar que não se tem, com os registros acima, a intenção de criticar a atuação do legislador, nem muito menos aquela outra do Excelso Pretório. Quer-se unicamente registrar fatos publicamente evidenciados e que não escondem a instauração, por essas vias legislativas e jurisprudenciais, de uma nova ordem jurídico-laboral, ordem essa que responde a uma orientação doutrinária e filosófica, vale dizer, ideológica, distinta daquela até então reinante, que vinha sendo a leitura dos dispositivos da Carta de 1988 com as lentes do Direito Trabalho do Estado de Direito Social, orientado para a proteção do trabalhador e a construção de maiores benefícios para essa classe. Inverte-se agora, claramente esse vetor, para adotar aquele outro de privilégio da empresa, como organismo de produção de riqueza e progresso econômico. Tal inversão, novamente se esclareça, não parece vedada, porquanto só o desconhecimento das vias históricas do Direito poderia sugerir a imutabilidade de sistemas, institutos, direitos e garantias. A única imutabilidade que se pode enxergar é a do privilégio à dignidade humana, sem o qual o Direito converte-se em anti-direito e, por isso, já não mais se justifica. Fora daí, há muito é sabido que sistemas, direitos e garantias vão e vem, valendo talvez discutir, somente e em outra seara, a legitimidade democrática dessas mudanças, verdadeiramente de repactuação de compromissos históricos, os quais remontam à queda de nossa 1ª República, sempre reticente à concessão de benefícios sociais e à fundação de uma 2ª República escorada nesse compromisso até então renovado por todas as nossas subsequentes ordens republicanas.
O movimento que se vê, em suma, é de refundação da ordem constitucional, ao menos na ordem juslaboralista e esse dado não pode ser negligenciado por quem quer que pretenda enfrentar qualquer tema nesta área a partir de então. Acrescente-se a ele o fato de que crises de magnitude internacional são também o ambiente mais do que propício para o aprofundamento da instauração de novos modelos jurídicos, sendo historicamente tão recorrente essa constatação que, novamente, seria ociosa uma digressão relacionando os muitos momentos em que isso se deu. Fato é que o Poder Executivo – e não só o federal, mas dentro de suas competências também outras esferas de poder da União – tem editado diversas normas de caráter inicialmente excepcional para o enfrentamento da crise sanitária, notadamente no que diz respeito às relações de trabalho. No aspecto que mais diretamente interessa a este escrito são as medidas provisórias, que têm por pressuposto central a manutenção da opção ideológica pela desoneração das empresas de obrigações trabalhistas, como alternativa para a manutenção de postos de ocupação. Em um ambiente econômico de normalidade tal opção, por princípio, seria criticável, porquanto a redução das rendas da classe trabalhadora, em um primeiro momento ao menos, também vem em desfavor do empresariado nacional, sobretudo o de pequeno porte, porquanto reduz o poder de compra da maioria de sua clientela. Todavia, não se tem intuito e certamente também não se tem habilitação para o aprofundamento desse debate em nível econômico. Quer-se tão somente sublinhar a opção do legislador, como necessária para nortear a interpretação jurídica de suas ações.
Não é menos sabido que sempre haverá os que dirão que uma coisa é mens legislatoris e outra a mens legis e que a ordem constitucional não pode ser subvertida pelo legislador ou pela jurisprudência, insistindo os autores em relacionar valores, direitos e garantias dos quais, destaque- se igualmente, não se discorda e, menos ainda, quer-se a abolição ou sequer a restrição de significado. Trata-se pura e simplesmente de constatar a contundência da realidade que atropela o discurso, a qual, por vezes, torna verdadeira a antiga máxima de que não é o Direito que instaura a ordem, como pretendem os normativistas, mas, muitas vezes, a ordem que instaura o Direito, ou antes, o reconhecimento de que a ordem é plural, como placas tectônicas que se superpõem e por vezes se movimentam e se reacomodam. Essa talvez a maior das dificuldades dos intérpretes de nosso tempo, que formaram seu pensamento sob inspiração positivista, acreditando no primado da Constituição como ápice de um ordenamento e só enxergando espaço para o Direito dentro dessa ordem normativa, um equívoco que já nasce posto em questão pela própria preponderância antecedente de uma ordem internacional e mesmo de diversas outras ordens que concorrem no meio social.
É exatamente nessa linha de raciocínio que aparece o emblemático art. 2º., da MP 927/2020, com o seguinte e lapidar teor: “Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.”. Em outra oportunidade, ao comentar-se a edição da última MP aludida, já se teve ocasião de ensaiar a interpretação desse enigmático dispositivo4, mas fato é que, se for para respeitar os limites estabelecidos na letra da Constituição, que são a prevalência da norma mais favorável ao trabalhador e daquelas outras coletivas, dentro do princípio da melhoria da condição social dessa classe (art. 7º., caput, da Carta), respeitada a distribuição constitucional de competências, não haveria espaço para que pactuação individual prevalecesse, ou ao menos não teria como cumprir a finalidade de enfrentar a crise sanitária dentro dos pressupostos estabelecidos pelo legislador emergencial, já que, à evidência, não se trata de ampliar o rol de benefícios aos trabalhadores, mas, antes de restringi-los, em nome da imprecisa cláusula de “garantir a permanência do vínculo empregatício”; não se sabe em que condições, nem por quanto tempo. Para que o enigmático texto do dispositivo provisório pudesse ter algum alcance, a única leitura possível seria entender que ele funcionaria como derroga parcial e provisória ao menos dos princípios de prevalência do normatividade coletiva sobre a individual e de proteção ao trabalhador, o que, como se disse, insere- se dentro da linha geral que vinha sendo descrita pelo legislador e pela jurisprudência superior de refundação do Direito do Trabalho na ordem jurídico-constitucional.
4 A referência é ao meu “A Medida Provisória nº 927 entre o princípio da liberdade contratual e o da igualdade de tratamento no Direito do Trabalho: primeiras impressões.”. Amatra 1 - Notícias, Rio de Janeiro, 24 mar. 2020.
Ocorre, porém, que o último dispositivo legal mencionado, na forma como foi lançado, cai no vazio e, ao menos nos primeiros momentos, parece não ter sido suficientemente compreendido para ser de pronto aplicado pela maioria dos seus destinatários. Trata-se de um problema de Psicologia e Sociologia do Direito, quando os destinatários da norma ainda não estão suficientemente informados sobre o alcance e os limites do novo sistema e lembram, mal comparando, a lenda daquele velho camponês russo que, ao tomar conhecimento da vitória da Revolução Bolchevique, pergunta ao filho, evidentemente mais jovem e politicamente ativo, se aquele “tal de Lenin” seria o novo czar da Rússia. Não teria sido tal enigmático dispositivo mais do que um prenúncio dos termos da Medida Provisória n. 936, ela sim a trazer instrumentos verdadeiramente novos e suficientemente intrigantes.
O ponto central da celeuma, como acima destacado, é a previsão de acordo individual entre empregado e empregador, em certas faixas salariais, para redução da jornada de trabalho e do salário, com garantia de emprego e percepção de benefício governamental igualmente provisório. Ao contrário de todos os arquétipos jurídicos de que diz fazer uso o legislador, logicamente preso a sua visão liberal e individualista do Direito do Trabalho, o que se vê logo de início é que não se trata de acordo, muito menos individual, nem de questão de redução de salários ou de jornada. Menos ainda de garantia de emprego, mas sim da adesão a um programa governamental de ajuda às empresas que tenham redução de sua atividade negocial e que, por via desse programa, fiquem beneficiadas com desoneração de sua folha de pagamento nos limites estabelecidos, pagando o benefício governamental parte dessa redução de renda aos trabalhadores, mediante a obrigação das empresas de pagar as indenizações nas taxas que a medida provisória institui, se não quiserem ou não puderem respeitar a garantia de emprego que corresponderia a essa adesão. Não se trata nem mesmo da prometida permanência no emprego, porque o §1º., do art. 10, da Medida Provisória, expressamente permite a dispensa sem justa causa dos beneficiários dessa garantia, desde que satisfeitas as indenizações e demais verbas que menciona. Logo, no sentido próprio do termo, não haveria garantia jurídica de permanência do trabalhador no emprego, mas tão somente elevação das taxas de indenização para a dispensa sem justa causa, o que é algo bem distinto.
Parece de reduzido interesse prático discutir se esse “acordo” pode ser individual ou não e, em certo sentido, parece tê-lo percebido o eminente Min. Ricardo Lewandowski do STF, na liminar que deferiu na ADI n. 6363., com todo respeito, é claro, a todos aqueles que se devotaram a essa discussão antes, cujas posições logicamente são aqui respeitadas e, diga-se desde logo, por seu grande espírito público e de preservação do Estado Social de Direito, sempre admiradas. A falta de interesse se dá porque, à evidência, o trabalhador não acordará nada com o empregador, mas receberá mera notificação para aderir a um pacto de redução de jornada ou suspensão do contrato, pacto esse que, por sua natureza, está longe de ser individual. Como já se teve ocasião de sublinhar no texto anterior em que se analisou a MP 927, o querer do empregador, por ser institucional, não pode ser equiparado ao querer individual e, na dimensão em que se colocam as medidas provisórias em questão, não se há logicamente de cogitar de suspensões ou reduções individuais de contratos de emprego, para determinados empregados, a não ser que objetivamente justificadas pelas peculiaridades de suas atividades ou daquelas do empregador. A redução ou a suspensão, em regra, alcançarão um setor, uma área de atividades ou até mesmo toda a empresa, revelando-se casuística e, por isso, excepcionais as figuras de suspensão ou redução dirigidas exclusivamente a determinados empregados. Em regra, o que se terá é a decisão de natureza coletiva do empregador, propondo a redução de jornada ou a suspensão dos contratos e a possibilidade ou não de adesão individual dos trabalhadores, sabendo estes que, não concordando, provavelmente seguir-se-ia a sua dispensa injusta. A figura que se tem, longe de ser acordo individual, é, na verdade, um acordo coletivo sui generis, criado pelo legislador para ser proposto pelo empregador, para adesão individual dos trabalhadores, mediante certas garantias minimamente estabelecidas em lei e com participação diferida das entidades sindicais nessa negociação. Neste sentido, como bem assinalou o voto do eminente Min. Ricardo Lewandowski sobre a matéria, não pode ser privada de significado a atuação sindical nessa figura.
O que se tem, na verdade, dentro da aludida ótica de inversão dos vetores do Direito do Trabalho, é inverter aquele da negociação coletiva, que normalmente parte da representação exponencial dos trabalhadores pelas entidades sindicais, para transformá-la partindo da iniciativa do querer coletivo patronal aperfeiçoado pela adesão difusa do operariado, sob intervenção meramente supletiva das entidades sindicais. Em outras palavras, trata-se de uma figura sui generis de acordo coletivo que, sob os primados da primazia da autonomia individual de vontade sobre aquela outra coletiva, debaixo de uma concepção liberal de democracia, não afrontaria a ordem constitucional, ou, ao menos e como se disse, a nova ordem que, em refundação, se vem paulatinamente instaurando. Se isso é bom ou mau, certo ou errado, justo ou injusto, aí logicamente a questão já é outra e muito mais aprofundada, chegando aos estertores da Filosofia do Direito e, é claro, não cabendo nos limites deste escrito. O fato objetivo é que, à frente de uma determinada crise, o legislador acaba de criar um mecanismo que desonera as empresas, oferece algum nível de benefício aos trabalhadores e uma garantia, ainda que juridicamente limitada, de permanência no emprego. Avaliar esse quadro, emitindo juízo de valor mais aprofundado sobre ele seria complexo, mas igualmente fato é que a questão passa ao largo dos arquétipos que vêm sendo postos na centralidade da discussão e alguns dos que se devotam a ela parecem mais ocupados em levar a público suas posições tomadas a partir dos aspectos externos e formais do problema do que submetê-lo ao crivo de alguma reflexão.
A grande discussão que está em pauta e que, no fundo, não discrepa dos termos em que o problema já há algum é posto no país, é saber se estamos ou não em um processo de refundação da ordem jurídico-constitucional do trabalho e se se vai ou não acatar esse processo. Essa é a grande pergunta que doutrina e jurisprudência, com todo respeito, deveriam devotar-se a enfrentar e não, como têm feito alguns, apegar-se renhidamente ao idealismo constitucional passado e reafirmar cegamente os valores do Estado Social de Direito, como se não houvesse toda a realidade à volta, ou, ao contrário, reafirmar esses valores, mas apresentá-los relidos e com um significado inteiramente novo, como se o passado não tivesse existido e como que tudo aquilo que até então se dissera nada valesse. São essas as duas posições que se veem, inclusive expressamente na atuação do legislador que, como se disse acima, editou texto como o do art. 2º., da MP n. 927/2020, mandando prevalecer os termos de acordos individuais, mas respeitar os termos de uma Constituição tributária de nosso passado corporativista e de sua revisão nas figuras do Estado Desenvolvimentista e Social de Direito. Com efeito, não há mais lapidar espelho de uma das mencionadas condutas em face da realidade atual, que é essa de querer mudar tudo, sem alterar uma só letra da Constituição, ao menos por enquanto. Na mesma linha, seria inútil tecer longa preleção sobre os valores e as vantagens desse Estado Social de Direito, o qual está longe da realidade sofrida da maior parte da população, privada das mais elementares promessas dessa ordem, em grande medida, pela destacada insistência, de ambos os lados da polêmica em afirmar uma devoção, expressa ou meramente formal, a um modelo ideal que se foi.
Por fim, resta enfrentar o problema da obrigatoriedade ou não da participação prévia das entidades sindicais nas negociações, o que se vê, antes do que uma questão de forma, uma outra de prudência para o empresariado, sobretudo. É certo que muito já foi e ainda poderia ser escrito sobre a regra do art. 8º., VI, da Constituição, e que outras tantas regras da CLT poderiam ser lembradas, como aquela do art. 617, §1º., que cria uma hipótese de atuação individual supletiva daquela outra coletiva na celebração de acordo coletivo. Todavia, essa não parece ser a questão central. É óbvio que se vier a prevalecer a tese de que os acordos individuais prevalecem, como até agora a questão caminhou no Excelso Pretório, e de que a comunicação às entidades sindicais é ato meramente formal e não da substância daqueles acordos, nem sujeito a qualquer aperfeiçoamento com a aquiescência sindical, o quadro que se terá é que esses acordos são atos ou negócios jurídicos das relações individuais do trabalho, sujeitos, é claro, aos rigores do art. 9º., da CLT, e fora da esfera de verdadeira imunidade à jurisdição que procurou criar a nova redação do §3º., do art. 8º., da CLT, dada pela Lei n. 13.467/2017, outra regra de pretendida estatura constitucional, malgrado a sua origem em lei ordinária, e que teria instituído o autodenominado princípio de intervenção mínima na autonomia de vontade coletiva.
Se a questão for de acordo individual, poderá a sua validade ser discutida no futuro em juízo, quando provavelmente a pandemia já não estará mais a atormentar severamente a vida cotidiana e os fatos e atos poderão ser interpretados sob outras óticas. Nesse contexto, poderia vir a ser postulada, por exemplo, a declaração de nulidade da adesão do trabalhador e a consequente condenação do empregador a pagar as diferenças salariais, ficando em aberto a questão da devolução ou não do benefício governamental recebido e se o Estado haveria ou não de ser indenizado pelos valores que por esse mesmo benefício pagou e ainda, assim se entendendo, quem deveria pagar, se o trabalhador devolvendo o que recebeu ou, havendo-se por irrepetíveis as prestações de natureza alimentar, o empregador que teria engendrado a adesão viciada ao aludido programa governamental. Na mesma linha, qual seria a resposta se, dispensado o empregado ainda no período de garantia de emprego, tendo recebido a indenização adicional criada pela medida provisória, postular a anulação do ato de adesão com reintegração ao emprego. Ou ainda, se a empresa, recém-saída da pandemia, alegar que não pode dar continuidade aos contratos de emprego e invocar, para rescindi-los, força maior ou fato do príncipe. O fato de até mesmo a lei vir a prever que essas figuras de exceção não seriam invocáveis na hipótese não seria suficiente para afastá-las de vez, pois, como é sabido, a lei não pode derrogar a realidade e o Judiciário sempre poderá contornar por alguma via ou mesmo afastar a aplicação de lei nesse sentido, dando razão ao empregador e fazendo letra morta da garantia de emprego inicialmente cogitada pela medida provisória. O mesmo se diga, com mais razão, se a empresa confessar ou tiver decretada sua falência. Subsistiria ainda o direito ao emprego ou à indenização adicional para os trabalhadores? E se a hipótese fosse de recuperação judicial?
Tudo indica e antes aconselha que as categorias, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, com o senso prático que é próprio das pessoas que se devotam mais diretamente ao exercício das atividades econômicas, percebam que, para além do debate teórico sobre a obrigatoriedade ou não da participação sindical nas negociações, é elemento de segurança jurídica a conformação da adesão dos trabalhadores através de instrumentos coletivos, os quais, em certa proporção, poderiam mesmo ir além dos limites da medida provisória em questão, não se olvidando ambos os lados da negociação que ainda persiste no art. 7º., XXVI, da Constituição, o chamado princípio da autonomia negocial coletiva e o prestígio aos instrumentos dela resultantes, com a confirmação favorável em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal e dentro do quadro de prevalência do negociado sobre o legislado que se vem instaurando no país, como se viu. Em uma palavra, a obtenção do beneplácito sindical, a par de ser dificuldade adicional e suscitar outras tantas discussões, parece, para o empresariado, medida de prudência e segurança jurídica e, para os trabalhadores, a oportunidade de tentar tornar mais sólidas as garantias e menos danosos os efeitos da redução salarial prevista na sempre referida medida provisória. Menos que temer a negociação coletiva e gastar tinta na crítica aos seus sempre lembrados vícios e limitações, cabe às partes lembrar que, em Direito do Trabalho, há uma intuitiva prevalência do coletivo sobre o individual, não por questões ideológicas ou de opção política do intérprete, como seria o inverso, mas em decorrência da própria natureza dos direitos e institutos em questão. Assim como a vontade da empresa quando se coloca é, em regra, vontade institucional, assim também aquela outra dos trabalhadores, conquanto possa aparentemente dar-se por escolhas individuais, amalgama-se em um todo que dá dimensão exponencial aos seus interesses em função da comunhão entre eles. Logo, é prudente não negligenciar essa natureza dos institutos e os efeitos que estruturalmente derivam deles, antes mesmo de pensar-se em questões de ordem formal ou teórica.
Se é certa a lição do Doutor Angélico, de que a lei é ordenação da razão para o bem comum, ditada por quem detém a representação da comunidade, sabendo ser este grande filósofo um dos defensores da pluralidade de ordenamentos e, se não é menos certa a lição do último dos jusnaturalistas e primeiro dos positivistas, que foi Hobbes, afirmando que a lei não resulta da verdade, mas sim da autoridade, parece já ser tempo de não esquecer que os direitos dos trabalhadores nasceram do embate de forças no meio social e politico, culminando com a assimilação desses direitos pelos ordenamentos constitucionais dos diversos países e que a sua reconstrução, seja para ampliação ou restrição, não importa, pode fazer renascer, com o vigor do passado, esse ambiente de conflagração de forças. Melhor, por isso, que antes de cultivar-se a reconstrução unilateral desses direitos, ou, no extremo oposto, pretender-se a imposição ferrenha do passado, se possa obter um ambiente de negociação e solidariedade, capaz de edificar à luz das imposições dos novos tempos. Que a razão e o bem comum sejam os nortes de todos os embates e que se possa compreender a necessidade de reconhecer valores humanísticos antes do que argumentos de força.