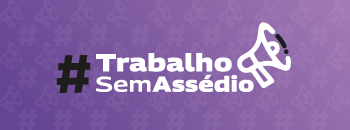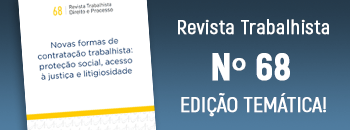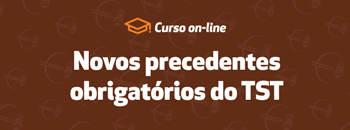Ainda sobre a Reforma Trabalhista
a última quinta-feira (4), participei de debate acerca da Reforma Trabalhista, mediado pelo jornalista Kennedy Alencar (SBT), juntamente com o relator da reforma na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho (PSDB-RN), com a assessora-chefe da Assessoria Especial da Casa Civil da Presidência da República, Martha Seillier, com o economista Helio Zylberstajn, professor da FEA/USP e conselheiro da FIESP, com o assessor especial do Ministério do Trabalho e chefe de gabinete substituto do Ministério, Admilson Moreira dos Santos, e com o presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Roberto Parahyba.
Sobre a Reforma Trabalhista, você sabe, nós já tratamos por aqui. Apresentei aos telespectadores, na ocasião, as ideias que venho há meses defendendo; e, em particular, a tese de que, por razões óbvias ─ com as quais inclusive assentiu o Professor Zylberstajn ─, a reforma sindical haveria de ser feita antes de qualquer reforma trabalhista que pretendesse privilegiar o negociado sobre o legislado, como é esta que caminha a passos largos (aprovada na Câmara dos Deputados há pouco mais de duas semanas, já tramita no Senado da República como PLC n. 38/2017, estando desde 4 de maio com o relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, o Senador Ricardo Ferraço, do PSDB/ES).
Evidentemente, houve resistências. As mais enfáticas foram exatamente as do Deputado Rogério Marinho, que, entre outros vários argumentos, repetiu dois bem conhecidos e perniciosos. O primeiro, de que aqueles que detratam a “sua” reforma trabalhista não agem com a razão e são como o homem da caverna do mito de Platão: precisam “ver a luz” (na verdade, um modo pouco sutil, irônico e deselegante de atrelar aos seus adversos, sub-repticiamente, a imagem de “atrasados”, “antiquados”, verdadeiros “homens das cavernas”). O segundo, de que o PL n. 6.787/2016 ─ agora PLC n. 38/2017 ─ não reduz quaisquer direitos trabalhistas. Você pode assistir a íntegra do debate, ou suas principais passagens.
Pois bem. Sabem os mais atentos que a minha intenção, nesta semana, seria tratar do temerário PLS n. 280/2016 (que, a propósito, já evoluiu positivamente). No entanto, o relator do PL n. 6.787/2016 foi tão insistente e enfático quanto àqueles dois “poderosos” argumentos ─ o do mito da caverna e o da inocorrência de perda de quaisquer direitos ─, que me vejo no dever de prestar a você, leitor desta coluna, alguns esclarecimentos a respeito. E é o que farei a partir de agora.
Tal como fez no debate da última quinta-feira, o Deputado Rogério Marinho já afirmou textualmente à comissão especial da Câmara dos Deputados, em 14/2 último, o seguinte: “É possível dizer que nenhum direito da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) vai ser retirado do trabalhador” (g.n.). Pois bem. Se, em uma prova objetiva (do tipo “verdadeiro” ou “falso”), você, leitor, se deparasse com a afirmação de que “o PL n. 6.787/2016 não retira direitos do trabalhador”, o que caberia responder, para se conseguir o ponto da questão? Afirmação “verdadeira” ou “falsa”?
Nem sempre as certezas, no campo jurídico, são autoevidentes. Arthur KAUFMANN, em sua multicitada “Filosofia do Direito”, já nos ensinava que o Direito não é substância, mas relação. Dito de outro modo, “os conhecimentos [jurídicos] têm de se encontrar numa congruência de fundamentos […] e […] têm de ser verificáveis (o que não significa que tenham de ser logicamente necessários; nas ciências normativas a verificação surge no discurso, que, por certo, nem sempre conduz ao consenso […], mas pode pelo menos conduzir a uma validade intersubjectiva, uma susceptibilidade de consenso)”[1].
De fato, assim é. Neste caso, porém, nem a melhor retórica pode afastar a verificação do fato objetivo, que nos conduz a uma única resposta possível: aquela afirmação é rigorosamente falsa.
Pretendo demonstrá-lo a partir de duas perspectivas, entre várias outras possíveis: a perspectiva da duração do trabalho (com seus limites, intervalos e adicionais) e a perspectiva da subcontratação (aqui, para simplesmente retomar as ideias da coluna anterior). A rigor, essa demonstração poderia ser feita a partir de diversas outras abordagens (como, p. ex., sob a perspectiva da remuneração, sob a perspectiva da responsabilidade patrimonial do empregador, sob a perspectiva do meio ambiente de trabalho, sob a perspectiva do direito à indenidade, sob a perspectiva das garantias do processo do trabalho etc.). Mas, ante os próprios limites desta coluna, ater-nos-emos àquelas duas únicas dimensões. E já terá sido demais.
Primeiro, quanto à duração do trabalho.
Desde logo, interessa lançar um breve olhar sobre o penúltimo artigo do PL n. 6.787/2016, porque ali estão as mais explícitas retiradas de direitos. O artigo 5º do projeto revoga, sem mais ─ e entre outros ─, os §§3º e 4º do artigo 58 e o artigo 384 da CLT. Com a revogação dos primeiros, desaparece da legislação brasileira a figura das horas “in itinere”, ou horas de trajeto, que acrescem à jornada do trabalhador, porque representam tempo à disposição do empregador (art. 4º da CLT). Com a revogação do segundo, desaparece o direito de toda trabalhadora descansar, por quinze minutos, antes do início da sua jornada extraordinária.
Com efeito, pelo teor atual do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, “[o] tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução” (g.n.); e é assim porque, se o local é de difícil acesso ou não está servido por transporte público, o fornecimento da condução interessa ao próprio empregador, para que seus empregados cheguem aos postos de trabalho a tempo e modo. Não havendo opção, ademais, resta claro que o empregado está à disposição do empregador, porque não poderá “escapar” da sua imediata ingerência, a não ser que se arrisque a perder o horário ou mesmo o dia de trabalho. Não há nisto nenhuma novidade, a rigor. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho há muito havia percebido esse excepcional estado de disponibilidade laboral, firmando a tese da adução do tempo à jornada no longínquo ano de 1978, com a publicação da Resolução Administrativa n. 80, em 10 de novembro daquele ano. Mais tarde, diante do inescusável direito que derivava do fornecimento patronal de condução para empregados que não pudessem acessar regularmente o transporte público, o próprio legislador incorporou essa interpretação à lei, refazendo o parágrafo 2º do artigo 58 (Lei n. 10.243, de 19.6.2001). São, portanto, quase quarenta anos de um direito de base legal (na origem, derivado do artigo 4º, e, agora, textual no artigo 58, §2º, CLT), que simplesmente desaparecerá. Repito: um direito trabalhista legalmente previsto desde 2001, e que já se reconhecia, a partir da interpretação do artigo 4º da CLT, desde 1978, será expurgado, sem mais, com a entrada em vigor do texto do PL n. 6.787/2016. Como, portanto, afirmar, em sã consciência, que “não se retiram direitos”?
O mesmo se diga do artigo 384 da CLT, ao prever, para as mulheres, que, “[e]m caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho”. Sobre a bondade ou oportunidade desse direito, poderíamos dedicar toda uma coluna. Fato é que o Tribunal Superior do Trabalho abonou-o, para as mulheres, sem o estender aos homens (TST, IIN-RR-1.540/2005-046-12-00, TP, j. 17.11.2008). O STF inicialmente confirmou o entendimento do TST (RE n. 658.312-SC, rel. Min. DIAS TOFFOLI, onde o relator ponderava que “o discrímen, na espécie, não viola a universalidade dos direitos do homem, na medida em que o legislador vislumbrou a necessidade de maior proteção a um grupo de trabalhadores, de forma justificada e proporcional”); e, posteriormente, reabriu a discussão, sem a resolver até o presente momento. Poderá ou não manter o direito; como poderemos nós, do ponto de vista ético, sociológico ou econômico, discutir a sua pertinência. É indiscutível, porém, que tal direito existe, para todas as trabalhadoras regidas pela CLT, conforme decidiu o próprio TST; e, enquanto não se pronunciar o STF, a lei obviamente gozará de presunção de constitucionalidade. Pois bem: este direito também desaparece, a despeito do juízo que lhe reserve o STF, tão logo se aprove o texto do PL n. 6.787/2016. E não se retiram direitos?
Esses talvez sejam os casos mais explícitos, porque derivam de uma regra de revogação expressa. Há mais, porém. Bem mais. E bem mais grave.
Falando ainda em jornada, é certo que, atualmente, qualquer trabalhador de home office que puder ter sua jornada controlada, seja por meio de sistemas de login/logout, seja por meio de relatórios de atividade, seja mesmo por monitoramento eletrônico direto, tem direito a horas extraordinárias. Sendo teletrabalhador subordinado, faz jus a todos os direitos trabalhistas típicos, nos termos do atual artigo 6º, parágrafo único, da CLT; e, não estando excluído do regime de limitação de jornada, estará sujeito a uma jornada de oito horas diárias (limitadas a quarenta e quatro horas semanais) e fará jus ao adicional de horas extraordinárias para os excessos. Aprovado o texto do PL n. 6.787/2016, esse direito igualmente desaparece, porque os teletrabalhadores passam a integrar, sem mais, o rol dos empregados que não se sujeitam a qualquer limitação de jornada (art. 62, III, da CLT, na redação do projeto).
Da mesma maneira, como dizíamos há pouco, a Consolidação das Leis do Trabalho atualmente prevê, no seu artigo 4º, considerar-se como de serviço efetivo todo aquele período em que “o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens”. Logo, se tem de aguardar ordens ─ e isso obviamente restringe as suas possibilidades de deslocamento, a não ser que se arrisque a perder o emprego ─, esse tempo se agrega à sua jornada, para quaisquer efeitos (inclusive remuneratórios). O PL n. 6.787/2016 cria, no entanto, a figura do trabalhador intermitente, assim entendido aquele cuja “prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador” (art. 443, §3º, CLT, na redação do projeto). Em tais casos, o empregado deverá ser convocado para trabalhar, mediante “comunicação eficaz”, que lhe dirá qual será a jornada a executar (se houver alguma) com “pelo menos” três dias de antecedência. E, nesse caso, “o período de inatividade não poderá ser considerado tempo à disposição do empregador” (art. 452-A, §5º, CLT, na redação do projeto).
Imagine, querido leitor, que você celebre com seu empregador um “contrato de trabalho intermitente”; e imagine que, em tempos de desemprego (como o atual, de 14 milhões de desempregados), já não lhe reste nenhuma outra opção. Você sabe que, em determinada semana, devido ao acréscimo de demanda do seu empregador (p. ex., as festas de fim de ano para as lojas de shopping center), poderá ser chamado com “no mínimo” três dias de antecedência, mediante “comunicação eficaz” (e-mail?), e que terá um único dia útil para manifestar seu aceite. Você viajaria, ou visitaria algum parente próximo, se isso lhe custasse mais que um dia de ausência? Ou você verificaria todo dia, se não várias vezes ao dia, a sua caixa postal eletrônica, no aguardo de “convocação” (= ordem)? Isto é algo muito semelhante ao que hoje se entende por sobreaviso, com previsão no artigo 244, §2º, da CLT, e extensível a qualquer trabalhador que tenha de permanecer em regime de plantão ou equivalente, “aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço” (Súmula n. 438 do TST). Ao fim e ao cabo, todos os trabalhadores que vierem a se sujeitar à nova “modalidade” contratual estarão simplesmente excluídos de quaisquer direitos remuneratórios resultantes do artigo 4º (= tempo de disponibilidade) ou do artigo 244, §2º (= sobreaviso), ambos da Consolidação. Hoje, se empregados forem ─ ainda que contratados como temporários, ou a tempo parcial ─, terão a possibilidade de fruir tais direitos.
Ainda quanto à jornada, é direito de todo trabalhador, à luz do próprio artigo 7º, XIII, CF, ter a duração diária do seu trabalho limitada a oito horas. A Constituição admite a flexibilização desse direito, mediante contrapartidas adequadas; mas, em todo caso, por meio de negociação coletiva (i.e., acordos e convenções coletivas de trabalho). Com a aprovação do texto do PL n. 6.787/2016, entretanto, passa a ser possível “negociar”, no plano individual, uma jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso, sem intervalo para descanso, e sem qualquer necessidade da intervenção do sindicato. É o que está, textualmente, no artigo 59-A do projeto. Assim, p. ex., nada impedirá que, em determinada usina sucroalcooleira, o empregador celebre, com todos os seus cortadores de cana-de-açúcar, jornadas de 12 x 36 sem intervalos, mediante meros acordos individuais, à míngua dos respectivos sindicatos profissionais. Com isto, poderá inclusive manter dois turnos de corte, sucessiva ou espaçadamente, sem o pagamento de quaisquer horas extras. E o corte manual de cana-de-açúcar configura uma das mais penosas atividades laborais existentes no campo, às raias da insalubridade, como dissemos na primeira análise aqui feita ao PL n. 6.787; veja-se, p. ex., o quanto decidido pelo TRF da 3ª Região nos autos da Apelação Cível n. 2014.03.99.012749-4/SP, ou pelo TRT da 3ª Região nos autos do Recurso Ordinário n. 0001644-21.2010.5.03.0033, ou ainda o próprio teor do PL n. 234/2007, que tramitava pela Câmara dos Deputados.
Vale ainda uma última consideração quanto à dimensão da duração do trabalho. Todos nós sabemos, e é algo que está nas próprias origens do Direito do Trabalho, que os temas da jornada de trabalho e dos intervalos laborais entroncam-se diretamente com a questão da saúde e da segurança do trabalhador. Não por acaso, o Peel Act (2.6.1802), considerado pelos historiadores a primeira lei propriamente “trabalhista” do nosso tempo, tratava basicamente de limitar o trabalho diário dos aprendizes a doze horas diurnas, excluindo as pausas para refeições (que não podiam ser “indenizadas” por acordo individual, como agora admitirá o artigo 59-A do projeto); chamou-se Peel Act em homenagem a sir Robert Peel, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, mas sua real denominação histórica era “Health and Morals of Apprentices Act” (= “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”), e sua propositura deveu-se ao surto de uma “febre maligna” que vitimou diversos aprendizes no ano de 1784, especialmente na cidade de Radcliffe. E, com efeito, dizia o texto original:
“We earnestly recommend a longer recess from labour at noon, and a more early dismission from it in the evening, to all those who work in the cotton mills: but we deem this indulgence essential to the present health, and future capacity for labour, of those who are under the age of fourteen; for the active recreations of childhood and youth are necessary to the growth, vigour, and the right conformation of the human body” (g.n.).
(Em tradução livre: “Recomenda-se seriamente um recesso laboral mais longo ao meio-dia, e uma desconexão mais precoce, à noite, a todos aqueles que trabalham nas fábricas de algodão; mas nós consideramos que essa tolerância é essencial para a saúde atual e a futura capacidade de trabalho de todos aqueles que têm menos de catorze anos; pois as recreações ativas da infância e da juventude são necessárias para o crescimento, o vigor e a correta conformação do corpo humano”).
Indiscutível, portanto, a correlação entre duração de jornada e saúde do trabalhador (especialmente os mais jovens), desde os primórdios do Direito do Trabalho. Como, ademais, hoje reconhece placidamente, fora de qualquer dúvida razoável, a própria Organização Internacional do Trabalho, de que o Brasil é Estado-Membro desde 1919. Vejam-se, p. ex., os artigos 4º e 5º da Convenção n. 155, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 1.254/1994:
Artigo 4º. 1. Todo Membro deverá, em consulta às organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta as condições e a prática nacionais, formular, por em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. […]
Artigo 5º. A política à qual se faz referencia no artigo 4 da presente Convenção deverá levar em consideração as grandes esferas de ação que se seguem, na medida em que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho: […] b) relações existentes entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de trabalho, da organização do trabalho e das operações e processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores; […] (g.n.).
Não é assim, porém, na “moderna” visão do PL n. 6.787/2016. Pelo seu texto para o artigo 611-B, parágrafo único, da CLT, estará dito que “[r]egras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo” (i.e., para fins de vedação da prevalência do negociado sobre o legislado). E, já por isso, na linha mestra do negociado sobre o legislado, o futuro artigo 611-A da CLT permitirá, entre outras coisas, que, sem a necessidade de qualquer aval técnico do Ministério do Trabalho, de auditores-fiscais do trabalho e/ou de médicos e engenheiros do trabalho, os sindicatos profissionais “negociem”, com sindicatos patronais ou com empresas, a piora das condições de trabalho em temas como intervalo intrajornada, “respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas” (inciso III), ou como enquadramento do grau de insalubridade, ou ainda como prorrogação de jornada em ambientes insalubres, “sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho” (inciso XIII)…
Sinceramente, nada mais absurdo. Diria, talvez, nada mais “cavernoso”. Retrocede-se em mais de duzentos anos.
E quanto à subcontratação de serviços?
A esse respeito, vale tudo o que antecipei na coluna anterior. Com a aprovação do texto atual do PL n. 6.787 ─ e, com ele, o do novel artigo 4º-A da Lei n. 6.019/1974, alterando a redação que a Lei n. 13.429/2017 recentemente lhe atribuiu ─, a terceirização de atividades-fim passa a estar legalmente autorizada, em qualquer hipótese (o que, vimos, a Lei n. 13.429/2017 não conseguiu fazer). Nos termos do projeto, admitir-se-á, como objeto lícito de qualquer empresa de prestação de serviços a terceiros, “a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução” (g.n.). Como já demonstramos, tal modelo de terceirização ampla e irrestrita fere de morte garantias constitucionais como a isonomia (art. 5º, caput, CF), porque autoriza que, em uma mesma linha de produção, haja trabalhadores desempenhando idênticas funções, mas percebendo diferentes salários (afinal, poderão ter diferentes empregadores, entre os quais não será possível estabelecer qualquer liame de equiparação salarial). Também haverá burla à garantia constitucional da irredutibilidade de salários (art. 7º, VI, CF), na medida em que um trabalhador poderá ser demitido da empresa tomadora e recontratado, para as mesmas funções, por intermédio da prestadora, mas com salário menor; e a garantia de dezoito meses de vedação à recontratação, como inserida no PL n. 6.787/2016, é um lenitivo insuficiente para alterar esse estado de coisas. Ademais, o novo modelo de terceirização violentará, direta ou obliquamente, diversas convenções internacionais das quais o Brasil é parte, como, p.ex., a Convenção 111, que trata da “discriminação em matéria de emprego e profissão” (já que trabalhadores ativados nas mesmas funções poderão receber salários significativamente discrepantes) e as Convenções 98 e 151 da OIT, que tratam da proteção contra atos antissindicais e da sindicalização no serviço público (porque a contratação de terceirizados enfraquece os sindicatos, porque deixamos de ter bancários, metalúrgicos, aeronautas, marítimos, comerciários… passam a ser, todos, elementos da amorfa categoria dos trabalhadores em empresas de fornecimento de mão-de-obra).
Eis aí, Deputado Rogério Marinho, os fatos. Vamos reconsiderar a sua resposta? O PL n. 6.787/2016 ─ agora PLC n. 38/2017 ─ retira, sim, direitos trabalhistas. E como. Defenda as suas posições, porque isto é legítimo. Mas não com argumentos irreais (ou, ainda pior, surreais).
******
Enfim, estimado leitor, considere o seguinte.
A respeito das supostas “benesses” da Reforma Trabalhista (desta Reforma Trabalhista, como está proposta pela base do Governo e é por ele apoiada), já se pronunciaram algumas entidades.
As principais associações nacionais de magistrados e membros do Ministério Público do Brasil ─ a saber, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), a Associação dos Membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) e a Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios (AMAGIS-DF), ─ pronunciaram-se no sentido de que o PL n. 6.787, na versão de Rogério Marinho, representa “um ataque que passa pela supressão de direitos materiais e processuais hoje constantes de lei (CLT) e até mesmo no que deixa de ser aplicado do Código Civil na análise da responsabilidade acidentária, optando-se pela tarifação do valor da vida humana, em vários pontos passando também pela evidente agressão à jurisprudência consolidada dos Tribunais Regionais e do Tribunal Superior do Trabalho”; e, veja, não eram apenas os juízes do Trabalho a dizê-lo, mas também os juízes estaduais e federais, além de todo o Ministério Público do país, nas suas representações mais legítimas.
Da mesma maneira, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu conselho federal, publicou nota na qual ponderava que “[m]odernizar a legislação trabalhista não pode, sob hipótese alguma, ser pretexto para que se imponham prejuízos irreparáveis aos trabalhadores e trabalhadoras de nosso país. […] A OAB, que nunca deixou de se posicionar em defesa da sociedade, acompanha vigilante cada movimento do Congresso Nacional e não poupará esforços para evitar retrocessos sociais”. E, bem sabemos, a OAB tanto representa advogados de trabalhadores como também advogados de empregadores.
Mais recentemente, a própria Igreja Católica brasileira, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, declarou publicamente que “[o] dia do trabalhador e da trabalhadora é celebrado, neste ano de 2017, em meio a um ataque sistemático e ostensivo aos direitos conquistados, precarizando as condições de vida, enfraquecendo o Estado e absolutizando o Mercado. Diante disso, dizemos não ao ‘conceito economicista da sociedade, que procura o lucro egoísta, fora dos parâmetros da justiça social’ (Papa Francisco, Audiência Geral, 1º. de maio de 2013)“.
As igrejas evangélicas não tardaram a seguir direção semelhante, embora mais restritamente (Reforma da Previdência). E não são, convenhamos, instituições de feitio “comunista”, “petista”, “sindicalista” ou análogos, como costumam vociferar os desqualificadores.
Mas são, quase todas elas, instituições progressistas. E são, todas, instituições ciosas da preservação do Estado social (e, portanto, dos direitos sociais historicamente construídos). A História do Brasil ─ ao menos a História mais recente ─ pode bem abonar esta minha afirmação.
Se são assim, e se são todas refratárias ao teor do substitutivo do relatório Rogério Marinho (agora PLC n. 38/2017), resta a você, prezado leitor, responder a esta fatídica pergunta: quem, afinal, está voltando às cavernas? Quem refuta esta reforma? Ou quem a apoia?
Na guerra da informação, somos comumente desorientados; e, por isso mesmo, é preciso ter cuidado para não confundir a visão do parabrisa com a do retrovisor. Pense. Você é réu do seu juízo.
*******
O e-mail segue à sua disposição para sugestão de temas, caro leitor. Sigo alimentando a expectativa de poder tratar, na próxima quinzena, do abuso de autoridade, o que já estou a dever.
————————————-
[1] V. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Trad. António Ulisses Cortês. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004. pp.99-100 (g.n.).
*Guilherme Guimarães Feliciano - juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, é professor associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Livre-docente em Direito do Trabalho pela USP. E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.