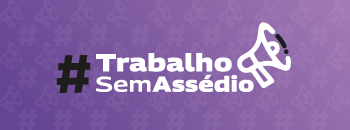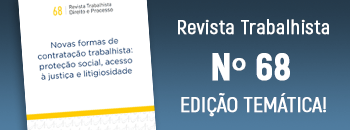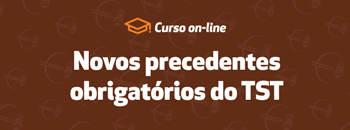Em 2013, a Constituição da República completou um quarto de século. A CLT, por sua vez, completou setenta anos de existência. Duas datas tão significativas para a ordem social brasileira podem suscitar, contraditoriamente, certa melancolia pelas tantas promessas não consumadas.
Inovando em relação à Carta de 1967/1969, a Constituição de 1988 reuniu os direitos sociais “stricto sensu” ¾ ditos “direitos trabalhistas” ¾ em um capítulo próprio (“Dos Direitos Sociais”), juntamente com os direitos sociais “lato sensu”, como os direitos à educação, à habitação e à alimentação. E, para além de ampliar o rol anterior de direitos trabalhistas, tanto no plano vertical (mais direitos) como no plano horizontal (mais sujeitos destinatários), a Constituição-cidadã tratou também de deslocá-los para o seu título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), retirando-os do seu sítio anterior (“Da Ordem Econômica e Social”) e conferindo-lhes a condição indiscutível de direitos fundamentais da pessoa.
Talvez por isso, e pelo quanto se lutou para contrapor, na Assembleia Nacional Constituinte, as tendências conservadoras que resistiam aos avanços sociais (quem não se lembra do “Centro Democrático”, ou “Centrão”, formado por alas do PMDB, PFL, PTB, PDS e outros?), é comum ouvir dizer que a ordem jurídica brasileira padece de um incurável “paternalismo histórico”, especialmente no que diz respeito à regulação das relações entre capital e trabalho. Houve até periódico nacional de conhecidas tendências conservadoras que propugnou ser a revogação da CLT uma providência essencial para que o país “virasse um foguete”. Pois bem. Será verdade? O Direito do Trabalho brasileiro é mesmo paternalista?
Ao menos na perspectiva do projeto constitucional traçado em 1988 para o Estado e a sociedade civil, o que se vê é coisa bem diversa. Entre os dispositivos constitucionais que ainda carecem de regulamentação, encontram-se, p.ex., o do artigo 7º, I, que cuida da garantia social contra a despedida arbitrária ou sem justa causa; o do artigo 7º, X, in fine, de que decorre mandado constitucional para a tipificação do crime de retenção dolosa de salários; o do artigo 7º, I, relativo à cogestão de empresa; o do artigo 7º, XX, que dispõe sobre incentivos legais específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher; o do artigo 7º, XXIII, quanto ao adicional de remuneração para atividades penosas; o do artigo 7º, XXVII, sobre a proteção do emprego em face da automação; e o do artigo 37, VI, relativo ao direito de greve para servidores públicos, entre outros.
Noutras palavras, se houvéssemos de identificar setorialmente um nicho onde a inércia legislativa é mais recorrente, identificá-lo-íamos precisamente no campo dos direitos sociais “stricto sensu”, ao lado de alguns direitos previdenciários (e.g., o do artigo 40, §4º). Aliás, vou além. Desafio o leitor a encontrar algum outro campo temático da Constituição em que se veja igual ou maior número de explícitas omissões legislativas. E não estamos falando de normas-princípios, abertas e vagas por natureza; alguns desses dispositivos indiscutivelmente veiculam normas-regras (v., p.ex., o voto do Min. Gilmar Mendes no MI n. 943/DF).
Bem, se então não somos, afinal, tão paternalistas, restaria perguntar: e a Constituição? No campo das salvaguardas sociais, por que ainda não lhe demos plenitude? Haverá nisso algum outro “paternalismo” oculto?
Com a palavra, o Parlamento.
*Guilherme Guimarães Feliciano, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, é Professor Associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.