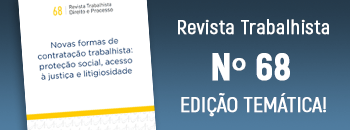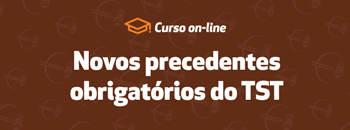Causou controvérsia a decisão do TST no Recurso de Revista n. 19800-83.2008.5.01.0065, julgado no último dia 10 de fevereiro, mantendo a decisão do TRT/RJ que reconhecia vínculo de emprego entre um pastor e a Igreja Universal do Reino de Deus. À parte a justiça do caso concreto (que me exigiria o exame detido dos elementos probatórios dos autos), o julgado traz à baila um velho “tabu” dogmático do Direito do Trabalho, que ainda se repete insistentemente nas faculdades, sem a devida reflexão crítica. O dito “trabalho religioso” não pode configurar vínculo empregatício? A doutrina convencional sempre afirmou que não, basicamente pelo fato de que o trabalho religioso é gracioso ─ uma “missão” ─ e, logo, não subordinado e nem remunerado. Uma resposta dogmática, como dizíamos.
O fato, porém, é que a realidade é sempre mais inventiva e complexa que as teorias e os modelos. Mesmo entre as várias profissões de fé, há nuances que podem e devem ser consideradas pelo juiz, considerando as circunstâncias factuais concretas, os fins sociais da norma e os valores constitucionais em jogo. Em algumas organizações religiosas, o trabalho prestado é efetivamente gracioso, sem implicar em necessária contraprestação econômica. Em outras, no entanto, percebe-se uma genuína estrutura empresarial, com ganhos econômicos apreciáveis e regulares, prêmios vinculados a cumprimento de metas de arrecadação ou de comparência ao culto, carreiras autônomas (de obreiros a bispos ou apóstolos), planejamentos estratégicos (com técnicas e campanhas que se reproduzem uniformemente por todas as unidades) e até mesmo exportação de know-how (em modelos próximos aos das franquias).
E sequer sugiro aqui que se trate de um “desvirtuamento” das finalidades religiosas da instituição, porque, certo ou não, esse padrão tem se tornado relativamente comum no cenário brasileiro. A ser um desvirtuamento, outros aspectos haveriam de ser seriamente considerados (como, e.g., os relacionados ao instituto da imunidade tributária sobre templos e seus serviços). Independentemente disso, porém, a se apresentarem aquelas condições, ainda que lídimas para uma organização religiosa, os seus efeitos trabalhistas não poderão jamais ser desconsiderados em favor de respostas prontas. O ministro de confissão religiosa que sob tais condições prestar serviços habituais, em qualquer tipo de culto ou denominação, será iniludivelmente empregado, sob a regência da CLT, cabendo-lhe todos os direitos trabalhistas típicos: registro em CTPS, garantia do salário mínimo, horas extras, FGTS, férias etc. Afinal, somando-se a habitualidade aos elementos que defluem daquela descrição “empresarial”, ter-se-á precisamente a hipótese do artigo 3º da CLT: trabalho subordinado, oneroso, pessoal e não-eventual. Dispensa-se, a propósito, a própria exclusividade. Ademais, a Lei n. 9.608/98, que regula o trabalho voluntário no Brasil, sequer refere o trabalho religioso, que não está dentro de seus escopos promocionais.
As respostas formais, em Direito do Trabalho, geralmente conduzem a equívocos. Por isso, enuncia-se como um seu princípio fundamental o da “primazia da realidade”. Não fosse assim, a Justiça do Trabalho jamais poderia mandar indenizar trabalhadores reduzidos à condição análoga a de escravo: em boa parte dos casos, sequer há remuneração em moeda corrente (afinal, a CLT diz ser empregado somente aquele que trabalha “mediante salário”...). Existir ou não relação de emprego é questão que só se resolve à vista do caso concreto. Não seria diferente nos trabalhos religiosos.
Enfim, vale aqui, ainda uma vez, a máxima aristotélica da igualdade geométrica. Ou ─ o que é o mesmo ─ vale a máxima cristã (Mateus, 13, 30): por ocasião da ceifa, convém separar o joio do trigo.
_________________________________________________
(*) Juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP, é professor associado de Direito do Trabalho da USP. Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região