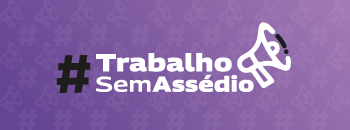1. Introdução
A discussão a respeito da competência, como medida de jurisdição atribuída a cada um dos ramos que integram o Poder Judiciário, freqüentemente provoca a equivocada idéia de que são estanques e incomunicáveis. Todavia, deve-se sobrelevar a compreensão de que o poder jurisdicional é uno; sendo a competência delineada somente para o melhor exercício daquele. É preciso destacar que o Estado-Juiz é único e somente distribui sua autoridade entre seus órgãos com o fito de dividir suas atribuições para solucionar os conflitos de interesse de maneira mais adequada; implicando dizer, outrossim, de modo mais econômico e célere.
Em tal contexto, quando vários são os debates e mais ainda as críticas em razão da propalada lentidão dos processos judiciais, revela-se oportuno estudar a redistribuição da competência como meio de aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Sendo mais preciso, demonstrar que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho pode representar uma significativa melhoria na prestação da tutela jurisdicional.
Não se pode, pois, deixar de traçar algumas linhas a respeito do poder/dever de jurisdição para sedimentar alicerces firmes aonde virão a se apoiar conclusões posteriores. De antemão, foi imprescindível discutir a finalidade da soberania conferida ao Estado no intuito de evidenciar que se justifica por ser fundamental à concretização de suas atribuições. Em outras palavras, que o Estado possui um poder soberano com a finalidade de servir a sociedade. Situando o Poder Judiciário dentro do cenário da máquina estatal, volta-se as atenções à tripartição das funções do Estado e, mais precisamente, à organização e exercício da atividade jurisdicional para revelar que sempre devem ser pensados de modo a melhor responder aos anseios e pretensões da sociedade.
Terminado o arcabouço que apoia toda a construção deste artigo, torna-se possível entrever a finalidade que seu título de logo promete. Tratando precisamente da competência da Justiça do Trabalho, escolheu-se três aspectos envolvendo a matéria no intuito de fazer notar que não é tão acanhada como alguns ainda acreditam. A intenção, ainda que velada, é demonstrar que a magistratura trabalhista também aprecia litígios que ultrapassam a mera controvérsia quanto ao pagamento de verbas de contratos individuais de trabalho e, sem nenhum empecilho, facilmente revelará habilidade necessária para tratar de outras matérias que porventura lhe sejam atribuídas.
Revestindo o presente estudo com propostas ao aprimoramento do Poder Judiciário, finalmente se apresenta o desejo de ampliação da competência da Justiça do Trabalho para abranger outras matérias que atualmente não lhe são afeitas. Afinal, sendo simultâneo ao desenvolvimento de mecanismos de composição extrajudicial dos conflitos individuais do trabalho, o crescimento da competência de tal ramo do Poder Judiciário será medida assaz importante para o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional.
Eis o desafio que se almeja enfrentar nas próximas linhas.
2. O escopo da soberania
O surgimento da sociedade política, indissociavelmente ligada à figura do Estado, decorre de um fenômeno complexo que envolve aspectos históricos, étnicos, políticos, filosóficos, econômicos, geográficos, culturais e jurídicos[2]. É inegável, porém, que as sociedades civis derivam da natural necessidade humana de agregação. Afinal, não tardou para os homens perceberem que a reunião de esforços lhes permitiria ultrapassar obstáculos com maior facilidade. Por conseguinte, tais agrupamentos dão azo à idéia de uma autoridade na medida que precisam de um comando para lhes atribuir uma disposição organizada no sentido de satisfazer suas necessidades com menor dificuldade[3]. Independente do meio pelo qual se originou a sociedade, pois, a constituição da autoridade se encontra apoiada pela idéia de ser imprescindível ao bem comum do grupo.
Revela-se oportuno, pois, citar a lição de Menezes de que “o Estado, tendo fins próprios, não é entretanto um fim em si mesmo, pois, contrariamente a isso, é um meio para o homem alcançar o pleno destino e conseguir a sua felicidade social em ambiente de paz e progresso. Sob esse título mesmo, Ataliba Nogueira defende a tese de que o Estado é meio e não fim, concluindo, após exaustivo estudo, que ´não existem os homens para o Estado, mas o Estado é que existe para os homens`, isto porque, `é o Estado meio natural, de que pode e deve servir-se o homem, para consecução do seu fim, sendo o Estado para o homem e não o homem para o Estado`. Antes de formular a assertiva terminal, no sentido de que `o Estado não é fim do homem; sua missão é ajudar o homem a conseguir o seu fim`, pois `é meio, visa à ordem para a prosperidade comum dos homens`, o mestre patrício raciocina sem possibilidade de contradita: `Instituição não contingente, porque natural, visto como se funda na própria natureza do homem, há de ter forçosamente o Estado um fim determinado. Não pode ser este fim mero produto do arbítrio humano. Assim como o Estado não é obra de arte, senão de natureza, assim também o seu fim não pode ser arbitrário, variável, artificial, porém natural, necessário”[4].
Chega-se à ilação, pois, de que o interesse comum que enseja a formação da sociedade reclama a criação de um ente voltado ao seu desenvolvimento, proteção e sobrevivência. Em lento processo, o Estado surge, natural e necessariamente, como o órgão pelo qual tais anseios seriam satisfeitos. A essência do Estado, portanto, estriba-se na noção de que existe para realizar o bem público[5].
Contudo, o Estado não alcançaria sua finalidade primordial se não pudesse encobrir suas ações de um caráter coercitivo. Embora não se compartilhe da teoria monística, quando propugna que o Estado se confunde com o Direito, é inolvidável que ambos estão localizados no mesmo patamar em face da discussão em torno de suas relações com a sociedade e o poder[6]. O Estado, cingido a sua órbita de competência jurídica, é um ente independente e supremo e pode impor sua vontade inclusive de maneira coativa. Surge, destarte, a idéia de soberania. Conquanto seu conceito não seja pacífico, inclusive no que concerne à origem histórica do vocábulo[7], somente é possível obter uma compreensão minimamente aceitável com incursões nos campos jurídico, sociológico e político. Afinal, a primeira inspiração da soberania se encontra no aspecto sociológico vez que foi a relação entre os homens que exigiu a constituição de uma autoridade (ubi societas ibi supremitas). Em seguida, tal aspecto social adquire feições políticas para, depois, ser normalizado e então galgar o patamar jurídico.
Oportuna é a lição de Reale, transcrito por Menezes, de que “uma cousa é a soberania – que não é só supremacia de um poder, mas que é síntese de supremacia e de independência, o que pressupõe a coexistência de uma pluralidade de Estados igualmente supremos no que diz respeito aos interesses próprios, e independentes relativamente aos interesses comuns – e outra cousa é o imperium, o poder mais alto de governo, a simples retenção da coação incondicionada”[8]. Percebe-se, pois, que a soberania é uma espécie do gênero poder; mais precisamente, é o nível máximo do poder do Estado. É necessário atentar, porém, que a soberania é característica essencial do Estado, mas não é o próprio poder do Estado e sim uma qualidade deste.
Neste diapasão, entrementes, é imprescindível definir quem é o titular de tal soberania. De todas as teorias que almejaram enfrentar tal questão, sobrelevou-se a doutrina da escola moderna e a idéia de que o povo, como maioria dos cidadãos, é o alicerce da soberania tendo em vista que o exercício desta é por ele politicamente realizado.
Segundo o professor Reale, novamente citado por Menezes, “o povo, fonte primeira do poder, é o titular da soberania de um ponto de vista geral, pois exerce a soberania dentro ou fora dos quadros do Direito objetivo; mas, enquanto o povo se contém em um sistema positivo de Direito, ou seja, enquanto é elemento do Estado, exerce a soberania como corpo social juridicamente organizado, o que quer dizer que a soberania é do Estado, o qual exerce a soberania na forma do Direito vigente.
Desde o instante em que a soberania como força social é delimitada pela opção que o povo faz por esta ou aquela forma de Estado, a soberania passa a ser direito do Estado, ou seja, do povo juridicamente organizado, adquirindo características especificamente jurídicas”[9].
É importante destacar, porém, que a soberania pode se manifestar em dois aspectos: interno e externo. O primeiro concerne à predominância da vontade do Estado sobre todos os indivíduos e grupos sociais abrangidos por sua área de jurisdição ao passo que o segundo diz respeito à representação do Estado em face dos demais, em um mesmo patamar e sem qualquer vínculo de dependência ou subordinação conforme o princípio da igualdade soberana dos Estados insculpido no art. 2º da Carta das Nações Unidas (Par in parem non habet jurisdictionem). Ao presente estudo, porém, apenas interessa a abordagem da acepção interna da soberania.
Segundo a concepção realista, a soberania é a qualidade definitiva pertencente a um poder em determinado domínio, sendo necessariamente absoluta. Entretanto, encontra limites vez que, do contrário, poder-se-ia constituir a onipotência, o despotismo e a arbitrariedade. A autoridade política, poder público soberano, está respaldada por um atributo exclusivo, natural e jurídico estabelecido para servir aos interesses de uma complexa comunidade humana.
Dinamarco lembra que “embora ao Estado não caiba o exercício do poder nacional em todas as áreas, nem se valer de todas as fontes de poder, certo é que ele detém o comando global de todas as manifestações deste, justamente em razão da soberania, que o põe a montante de todos os demais pólos de poder. Ele é como sugestivamente foi dito, o ‘gerente nato do bem-comum’, e isso se mostra particularmente visível no Estado social contemporâneo, que, negando os postulados do liberalismo, quer ser ‘a providência do seu povo’ (ele vislumbra o bem comum sub specie comunitatis)”[10].
Infere-se, portanto, que a soberania do poder do Estado está fundamentada e cingida juridicamente pelo intuito de buscar, realizar e salvaguardar o bem comum[11].
3. A tripartição das atribuições estatais
As funções estabelecidas ao Estado para a consecução do seu fim primordial, a promoção do bem público, abarcam um enorme e complexo feixe de atividades que envolvem atos e serviços que se modificam conforme a época e o local. Destarte, conquanto a soberania seja una, a autoridade inicialmente concentrada em uma pessoa ou coletividade passou a ser dividida de modo a sistematizar os trabalhos estatais. Estabeleceram-se, pois, órgãos para efetivação das funções do Estado nas fronteiras de suas correspondentes competências[12].
É relevante citar a lição do prof. Nelson Saldanha de que “a vida das normas oficialmente impostas em cada grande grupo social envolve a existência de instâncias que as criam ou aplicam. Tais instâncias são como que institucionalização de vontades : elas concentram o mando, dão as ordens, verificam as obediências. Por alguma forma os grupos aceitam que algumas vontades os conduzam, e se organizem para tanto : ou são vontades ocasionais e pessoais, ou são escolhidas por tradição e hereditariedade, ou se escolhem objetivamente. Sabe-se também que, na trajetória sócio-cultural do que se chama ´Estado`, os primórdios apresentam certa confusão de funções, e aos poucos e aos tropeços é que se sistematizam as separações. Como numa divisão do trabalho, a complementariedade vai sendo a regra : na medida em que o Estado é olhado como um todo, aceita-se que cada um de seus poderes (os ‘braços’ ou ramos do Estado, como se dizia) precisa dos demais. (...) Os três poderes, a que a doutrina alude, são como momentos da vida do Direito e de suas normas : primeiro as normas nascem; em seguida tem-se o quadro governamental que as ‘executa’; finalmente elas chegam aos casos. Em semelhante e esforçada simplificação, temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário reconhecidos frente à idéia dos ‘afazeres’ jurídicos”[13].
A maneira pela qual o Estado se organiza para realização de seu mister, pois, é analisado pela teoria dos poderes do Estado - que ganhou celebridade sendo associada ao festejado Montesquieu; mas que, conforme advertem Ovídio Baptista e Fábio Gomes, “na verdade é mais um mito do que uma realidade. O célebre filósofo francês não a defendeu, como geralmente se supõe, e nem considerou o Judiciário como um poder, de vez que, ao referir-se ao poder judicial (puissange de juger), num Estado democrático, Montesquieu (Esprit des lois, v. 11. p. 6) afirma ser tal poder invisível e nulo (sobre isso Louis Althusser (Montesquieu, La politique et l´histoire, trad. port., Lisboa, 1977, p. 133), pois ´os juízes não são senão... a boca que pronuncia as palavras da lei...`”[14].
Embora Aristóteles tenha mencionado a questão dos três poderes, em sua clássica Política, a experiência da polis grega não possuía os elementos necessários para permitir uma total projeção da teoria dos poderes do Estado. Igualmente, na Idade Média, a concepção teológica e autoritarista então vigente não permitia uma perfeita elaboração da mencionada teoria[15]. Foi com o Estado moderno, quando a soberania passou a significar a unidade do poder estatal, que os poderes políticos passaram a ser repartidos em titularidades, embora uno o Estado, convivendo uns com os outros.
Considerando que o poder soberano é uno, não parece ser adequado mencionar uma separação dos poderes do Estado. Na realidade, pois, revela-se mais preciso tratar da tripartição das funções estatais entre os denominados “poderes” Legislativo, Executivo e Judiciário – que, segundo o art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 05/10/1988, são independentes e harmônicos entre si[16] - salientando-se, porém, que as atividades legislativas, executivas (administrativas) e judiciárias são preponderantes e não exclusivas de cada um dos respectivos “Poderes”.
Entretanto, embora os “Poderes” do Estado devam ser postos em um sistema de freios e contrapesos, isso não significa qualquer ofensa ao exercício de quaisquer um deles.
Conforme alerta o insigne Dyrceu Aguiar Dias Cintra Jr., “os Poderes do Estado devem ser independentes sim, mas harmônicos. A harmonia se dá exatamente pela influência mútua entre eles, como previsto em diversas instituições. Essa influência mútua existe. O que não pode haver é a possibilidade de um poder se sobrepor ao outro, anulando-o completamente enquanto manifestação do Estado, porque, neste caso, estaria violado o Princípio da Separação dos Poderes. A mera influência de um Poder sobre o outro não significa ofensa ao princípio da separação dos poderes”[17].
Todavia, por derradeiro, também é importante trazer a lume o alerta que Dallari apresenta nas primeiras linhas de uma de suas recentes obras : “Os três Poderes que compõem o aparato governamental dos Estados contemporâneos, sejam ou não definidos como poderes, estão inadequados para a realidade social e política do nosso tempo. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que eles foram concebidos no século dezoito, para realidades diferentes, quando, entre outras coisas, imaginava-se o ‘Estado mínimo’, pouco solicitado, mesmo porque só uma pequena parte das populações tinha a garantia de seus direitos e a possibilidade de exigir que eles fossem respeitados. (...) No caso do Brasil, essa inadequação tem ficado cada vez mais evidente, porque a sociedade brasileira vem demonstrando um dinamismo crescente, não acompanhado pela organização política formal e pelos métodos de atuação do setor público. De fato, os três Poderes que compõem o aparato governamental do Estado brasileiro estão muito necessitados de reformas, para que se democratizem, ganhem eficiência e atuem com o dinamismo exigido pelas condições da vida social contemporânea”[18].
4. O exercício da atividade jurisdicional
Em sua clássica obra, Montesquieu sobrelevou o Legislativo e minimizou o papel do Judiciário na medida em que enfatizou em demasia o papel do júri, cuja eventualidade do poder o tornaria nulo. Contudo, embora apoiado no exemplo da monarquia inglesa, o festejado jurista francês, conforme adverte François Rigaux, “decerto estava mal informado sobre a função quase legislativa que os juízes ingleses exercem por meio do common law”[19]. Na realidade, por revelar um peso político menor que os demais, o Judiciário muitas vezes foi posto em situação de menor destaque dentre as funções do Estado. Todavia, hodiernamente, verifica-se que a atuação do Direito não raramente se torna concreta apenas mediante a atividade do Estado-Juiz.
Conquanto ainda hoje seja acreditada por alguns, não condiz com a realidade a idéia de que o Poder Judiciário não possui e não pode possuir caráter político. Na verdade, não se pode admitir que tenha cunho político-partidário e isso não significa que lhe é proibido agir de modo a interferir eficientemente no cenário político do Estado. A atuação política do judiciário se torna evidente, somente à guisa de exemplo, um dentre vários, quando há o controle judiciário sobre atos do Executivo e do Legislativo mediante a declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou medidas provisórias.
Conforme bem admoesta Dallari, “no momento em que foram superados o feudalismo e o absolutismo, os juízes deixaram de ser agentes do rei ou de aristocratas poderosos para se tornarem agentes do povo. Isso ficou definitivamente claro com o aparecimento das Constituições escritas, no século dezoito. Foi transferida para o Estado a soberania, que antes era um atributo pessoal do rei, e se consagrou a tripartição do poder do Estado, entregando-se à magistratura uma parcela desse poder soberano, essencialmente político. Esse é um ponto importante, que não tem sido suficientemente considerado e que pode explicar, inclusive, certas divergências teóricas : as decisões judiciais fazem parte do exercício da soberania do Estado, que, embora disciplinada pelo direito, é expressão do poder político”[20].
Percebe-se facilmente, pois, que o Poder Judiciário possui o compromisso político de, enquanto no exercício de sua competência primordial, solucionar os conflitos intersubjetivos de interesses com o objetivo de alcançar a paz social (o bem comum). Ao Juiz cabe a missão de aplicar a lei abstrata e geral ao caso concreto e individual. Ponha-se em relevo, porém, que o Juiz não pode se abster de tal tarefa. Como dito alhures, não se trata apenas de um poder mas, também, de um dever de prestar a tutela jurisdicional. Não se permite ao magistrado, a exemplo do que ocorria no Direito Romano (quando apregoava a expressão latina non liquet), que deixe de sentenciar porque não chegou a uma conclusão quanto aos fatos. Como salienta Carlos Maximiliano, “bem ameaçadas ficariam a tranqüilidade pública e a ordem social, se ao juiz fosse lícito abster-se de julgar, ao invés de suprir as deficiências da lei com as próprias luzes e os ditames da razão e da eqüidade”[21].
5. A Jurisdição e a competência
Segundo se depreende do analisado nas linhas pretéritas, a jurisdição é um dos aspectos da soberania nacional, sendo a capacidade exclusiva do Estado (CPC, art. 1º) de decidir os conflitos intersubjetivos de interesses de maneira imperativa com a aptidão de impor sua decisão coativamente. Da mesma forma que a soberania é una, conforme foi advertido anteriormente, também una e indivisível é a jurisdição do Estado.
De acordo com Ovídio A. Baptista da Silva[22], “não obstante essa unidade e identidade da respectiva atividade funcional, o exercício efetivo e concreto da função jurisdicional é atribuído internamente pelo Poder Judiciário, segundo a competência que a própria Constituição Federal e as leis de organização judiciária de cada Estado e da União conferem a seus juízes e Tribunais Superiores. Costuma-se dizer, para definir a competência, que a jurisdição é o poder de julgar, conferido aos juízes e Tribunais, e que a competência é a medida de jurisdição, vale dizer, a porção dela atribuída pela lei a cada magistrado, ou aos Tribunais colegiados, ou a porções fracionárias destes, para apreciar e julgar determinada causa (Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 1902, v. 1, p. 9; J. I. Ramalho, Practica civil e comercial, 1861, p. 27; Manuel Pelaez Del Rosal, La competencia territorial en el processo civil, Barcelona, 1974, p. 42; Athos Gusmão Carneiro, Jurisdição e competência, n. 41)”.
Importante é destacar o alerta de Coqueijo Costa[23] de que “como a soberania, a jurisdição é una e indivisível, mas admite classificação: penal (aflitiva) ou civil (reparatória), especial ou comum, superior ou inferior, de direito ou de eqüidade”. Isso não significa, entretanto, que não haja relação entre, v.g., as jurisdições civil e penal. Na realidade, conforme se depreende do art. 1.525 do Código Civil Brasileiro, o ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema da independência relativa a exemplo da Bélgica e da França[24]. No mesmo sentido, o art. 110 do Código de Processo Civil giza que “se o conhecimento da lide depender necessariamente da verificação da existência de fato delituoso, pode o Juiz mandar sobrestar o andamento do processo até que se pronuncie a justiça criminal”.
Resta claro, pois, que não se pode confundir a jurisdição com a competência. A jurisdição é o poder conferido ao Estado (um dos matizes da soberania) de fazer atuar o direito no processo que abrange um litígio decorrente de uma disputa concreta entre indivíduos que não se compuseram voluntariamente. Por seu turno, a competência é a possibilidade de exercer a jurisdição; aquela limita e distribui entre os juízes a autoridade para exercer esta. Ou seja, a competência é a medida de jurisdição distribuída entre os diversos órgãos que integram o denominado Poder Judiciário.
É de boa nota relembrar, porém, que o intuito do presente trabalho monográfico se cinge à abordagem da distribuição da competência em razão da natureza da lide; que possui, entre seus objetivos, uma prestação jurisdicional mais célere[25]. Neste diapasão, criam-se órgãos jurisdicionais especializados para processar e julgar certos e determinados conflitos de interesses com o escopo de alcançar uma mais rápida solução de tais litígios.
6. A competência da Justiça do Trabalho
A competência típica da Justiça Especializada do Trabalho é apreciar e dirimir os litígios decorrentes de conflitos intersubjetivos de interesses, no plano individual ou coletivo[26], entre os sujeitos de um contrato de trabalho stricto sensu - ou seja, aquele que corresponde a uma relação laboral com as características delineadas na Consolidação das Leis do Trabalho. Entretanto, ao se afastar de tal competência primordial, adentra-se em seara de inúmeras controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. Nos tópicos seguintes, abordar-se-á algumas das várias questões que têm suscitado acirrados debates entre aqueles que operam com tal ramo jurídico[27].
6.1. Ações contra pessoas jurídicas de direito público externo
Parte da doutrina defende que o Poder Judiciário brasileiro, e em particular a Justiça do Trabalho, não possuiria competência para apreciar e dirimir ações envolvendo conflitos entre trabalhadores (empregados) e Estados estrangeiros ou organismos internacionais em virtude da imunidade de jurisdição conferida a estes[28]. Entretanto, conforme transcrito anteriormente, o art. 114 da Constituição Federal estabelece que “compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo (...)” (grifou-se).
A jurisprudência, porém, tem se firmado no entendimento de que não há imunidade de jurisdição que afaste a competência da Justiça Especializada do Trabalho para, em fase de conhecimento, apreciar e dirimir os mencionados conflitos.
Somente a título de exemplo, cite-se os seguintes arestos :“Competência da Justiça do Trabalho - Não Opera a Imunidade Internacional nas Ações Trabalhistas Contra Pessoa Jurídica de Direito Público Externo - De acordo com a determinação contida na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 114), compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores , abrangidos os entes de direito público externo. O Constituinte brasileiro de 1988, ‘à margem do que tenha sido pretendido por parte da composição da assembléia, não desafiou qualquer princípio de direito internacional público ao estabelecer, no art. 114, mera regra de competência, e nem o teria feito se tivesse ido além da regra de competência para dizer, a esta altura, que a imunidade não opera na ação de índole trabalhista contra pessoa jurídica de direito público externo” (TRT 10a. Região - RO 627/93 - Ac. 3a. T. 2.219/94 - Rel. Juiz Paulo Mascarenhas Borges - DJU 25.11.94). “Imunidade de jurisdição. Estado estrangeiro. Causa trabalhista. Com o advento da CF de 1988, competente é esta Justiça Especializada para julgar os feitos referentes a dissídios entre trabalhadores e empregadores, envolvendo entes de direito público externo. Não há que se falar em imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro em causa de natureza trabalhista. Recurso de embargos conhecidos e desprovido” (TST, RR 1.698/85.7, Vantuil Abdala, Ac. SDI 1.257/96).
A imunidade de jurisdição do organismo internacional, no que concerne a litígios trabalhistas, possui caráter meramente relativo. Afinal, não há que se cogitar tal imunidade quando o organismo internacional está nivelado ao particular em atos de negócio ou de gestão. Os efeitos da imunidade de jurisdição não se operam vez que atuou em matéria de ordem estritamente privada (contratação de mão-de-obra). Portanto, nada impede que a Justiça do Trabalho conheça de tal controvérsia e sobre ela exerça seu poder jurisdicional.
Na realidade, a imunidade de jurisdição em ação trabalhista não existe em processo de conhecimento - embora permaneça quanto à fase de execução (salvo renúncia expressa). O Excelso Supremo Tribunal Federal, aliás, já perfilhou o entendimento de que não há imunidade de jurisdição dos entes de direito público externo quanto ao processo de conhecimento e o eventual procedimento declaratório de liquidação de sentença[29].
Frise-se que as imunidades previstas nas Convenções de Viena (1961 e 1963) possuem caráter pessoal e apenas quanto aos agentes diplomáticos e consulares. Na realidade, não abrangem os Estados estrangeiros e organismos internacionais (cuja imunidade, outrora, não decorria de nenhuma norma escrita de direito internacional público e sim de antiga e sólida regra costumeira do Direito das Gentes).
Entretanto, a mencionada regra consuetudinária de direito internacional público não mais perdura com igual robustez. Neste diapasão, revela-se importante citar a lição do ilustre J. Francisco Rezek[30]:
“Uma Convenção européia sobre imunidade do Estado, concluída em Basiléia em 1972, exclui do âmbito da imunidade as ações decorrentes de contratos celebrados e exeqüendos in loco. Dispositivo semelhante apareceria no State Immunity Act, que se editou na Grã-Bretanha em 1978. (...) Um projeto de tratado sobre a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro e a inviolabilidade de seus bens foi concluído em junho de 1991 pela Comissão do Direito Internacional das Nações Unidas, já tendo dado origem a alguma análise crítica em doutrina. O confronto desse projeto com o direito positivo então preexistente - a Convenção Européia de 1972, as leis internas promulgadas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Austrália, no Canadá - e com precedentes de nações diversas permite ter como provável que a imunidade não subsistirá no que se refere a toda espécie de processo derivado de relação jurídica entre o Estado estrangeiro e o meio local - mais exatamente os particulares locais. Isso significa algo afinal previsível por sua perfeita naturalidade: a Justiça local é competente para conhecer da demanda contra o Estado estrangeiro, sem que este possa argüir imunidade, justamente naqueles casos em que o direito substantivo local é aplicável. Tal o caso da reclamação trabalhista deduzida por aquele que a embaixada recrutou in loco (não importando sua nacionalidade, que pode ser até mesmo a do Estado empregador), ou da cobrança do preço da empreitada, dos serviços médicos, do aluguel em atraso, da indenização pelo infortúnio no trânsito. A imunidade tende a reduzir-se, desse modo, ao mais estrito sentido dos acta jure imperii, a um domínio regido seja pelo direito das gentes, seja pelas leis do próprio Estado estrangeiro: suas relações com o Estado local ou com terceira soberania, com seus próprios agentes recrutados na origem, com seus súditos em matéria de direito público - questões tendo a ver com a nacionalidade, os direitos políticos, a função pública, o serviço militar, entre outros”.
Neste cenário, conclui-se que o entendimento de imunidade absoluta dos Estados estrangeiros e organismos internacionais não mais encontra espeque para ser sustentado. Primeiro, como dito alhures, porque as Convenções de Viena não lhes abrangem. Segundo, porque ruiu o suporte consuetudinário que lhes apoiava na medida em que diversos Estados abandonaram tal regra.
6.2. Ações envolvendo pedido de indenização por danos morais
São cada vez mais freqüentes as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho onde o autor busca indenização por alegados danos morais sofridos em razão da conduta do seu ex-empregador. Afinal, conforme ensina o ilustre Arnaldo Süssekind[31], “o quotidiano da execução do contrato de trabalho, com o relacionamento pessoal entre o empregado e o empregador, ou aqueles a quem este delegou o poder de comando, possibilita, sem dúvida, o desrespeito dos direitos da personalidade por parte dos contratantes. De ambas as partes - convém enfatizar - embora o mais comum seja a violação da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem do trabalhador”.
Na verdade, a própria Consolidação das Leis do Trabalho já prevê a possibilidade de danos morais surgidos de conflitos entre os sujeitos da relação de trabalho, quando um dos contratantes pratica atos lesivos à honra ou boa fama do outro, e autoriza a despedida por justa causa (art. 482, k, da CLT) ou a rescisão indireta do contrato empregatício (art. 483, e, da CLT) conforme qual seja o agressor e a vítima.
Com a vigência da Magna Carta promulgada em 5 de outubro de 1988, a proteção a danos morais passou ao patamar constitucional de acordo com o disposto em seu art. 5º, incisos V e X, não sobejando qualquer dúvida da possibilidade jurídica de ações provocando a tutela do Estado-Juiz para assegurar a devida reparação.
Entrementes, muito se discute a respeito da competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e dirimir pedidos envolvendo direitos da personalidade, ainda que do empregado. Não são poucos os que defendem que a moral atingida não é do indivíduo enquanto empregado e sim enquanto pessoa; concluindo que a competência, pois, é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça Especializada do Trabalho.