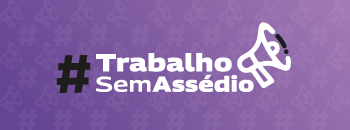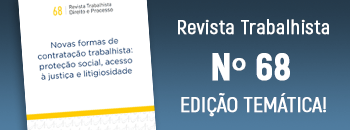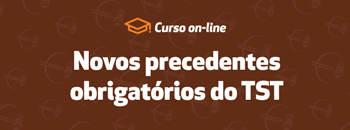A emenda constitucional n. 45/04 ao tratar do dissídio coletivo de natureza econômica trouxe certa perplexidade ao mundo jurídico ao estabelecer no artigo 114, `PAR` 2º que "recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva, ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente". (grifo nosso).
O primeiro pomo de discórdia que a nova redação do artigo 114 da Constituição da República suscita é o famigerado mútuo consenso como pressuposto de procedibilidade do dissídio coletivo. Muitos juristas argumentam que a exigência de comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica foi feita em caráter facultativo no texto da Lei Maior e não de forma imperativa e incontornável. O argumento, a meu ver simplista, e captado de mera leitura literal do parágrafo segundo do artigo 114 em epígrafe, é vazado no sentido de que recusando as partes a negociação coletiva ou a arbitragem, cria-se de imediato mera faculdade para que as mesmas aquilatem a conveniência de através de mútuo consenso ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica.
Como se trata de mera faculdade poderiam as partes saltar sim a exigência do mútuo consenso, principalmente quando este se revelasse impossível de se obter pela resistência ou tenacidade de uma das partes envolvidas no conflito e, de pronto, ajuizar o dissídio coletivo sem a exigência dessa formalidade. Argumentam, ainda, que a ausência de consentimento de uma das partes envolvidas no conflito forçaria a utilização compulsória da arbitragem, que não tem qualquer tradição no Direito brasileiro, até mesmo como norma de convicção exauriente, máxime quando não atenda aos interesses da parte mais fraca do conflito que é a categoria profissional, frustrando-se assim a possibilidade dela obter conquistas sociais frequentemente concedidas pela Justiça do Trabalho, através do exercício de seu poder normativo. Este seria o motivo pelo qual a categoria profissional fugiria da arbitragem como o diabo foge da cruz, preferindo que o conflito fosse desde logo julgado pelo Tribunal do Trabalho, devidamente estruturado e aparelhado para tal fim, com precedentes normativos em matéria de direito coletivo que acenam sempre para uma proteção social dos trabalhadores, de molde a compensar com uma superioridade jurídica a inferioridade econômica e, às vezes, até mesmo de articulação política da categoria profissional.
E os argumentos não param aí. Dizem mais que a se interpretar que o dissídio coletivo de natureza econômica só pode ser ajuizado com a anuência da contraparte suscitada e recusando-se esta levianamente a outorgar o seu consentimento, teríamos um impasse jurídico de catastróficas conseqüências, porque a parte interessada na solução heterônoma do conflito ficaria privada do direito de ação, que é direito público de assento constitucional e de natureza pétrea. Enfatizam mais que a exigência do mútuo consenso aniquilaria a hipótese do dissídio coletivo de natureza jurídica, que sequer foi objeto de menção explícita na Carta Constitucional, mas que já enraizou na tradição sindical brasileira, sendo instituto jurídico de iniludível necessidade para se alcançar a almejada harmonia no seio das categorias profissionais e econômicas, isto porque através dele, longe de exercitar o chamado poder normativo, o Judiciário Trabalhista outorgaria apenas uma tutela jurisdicional esclarecedora do real alcance e significado de cláusulas sindicais inseridas em acordos e convenções coletivas ou até mesmo no âmbito da sentença normativa, dando a exata dimensão do bem de vida alcançado pela categoria profissional através dos referidos instrumentos coletivos, prevenindo-se focos de conflitos interpretativos que poderiam ser suscitados no âmbito dos dissídios individuais que visassem o cumprimento e efetivação daquelas garantias.
Outro argumento que se antepõe à inviável exigência do mútuo consenso seria o de que a recusa aleivosa e leviana da categoria econômica à conciliação e à arbitragem, seguida de igual recusa abusiva de consentimento para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, simplesmente extirparia do mundo jurídico instrumentos coletivos que contribuem eficazmente para a paz social, como sói acontecer com os acordos e as convenções coletivas e até mesmo um possível pronunciamento estatal sobre o conflito de classe, fulminando-se de vez a possibilidade de as categorias profissionais alcançarem melhores condições de trabalho pela via heterônoma. Contrapõem ainda que o único recurso que sobraria à categoria profissional para forçar a aprovação de sua pauta de conquistas sociais seria o exercício do direito de greve, expediente nem sempre viável na prática, até porque somente os sindicatos fortes e bem estruturados, como acontece na região do ABC paulista é que teriam condições reais e concretas de barganhar com a categoria econômica contraposta, forçando-a a negociar em face da paralisação do trabalho e dos meios de produção, minando assim a resistência do patronato.
Os sindicatos fracos, inexpressivos, sem qualquer representatividade, estariam entregues à própria sorte, porque, sem poder de barganha, entrariam em uma situação caótica de envilecimento das condições de trabalho. Isto sem dizer, argumentam ainda, que a greve nem sempre corporifica o melhor remédio social para se debelar a resistência do patronato, porque pode atingir necessidades inadiáveis da população, impondo gravame à comunidade em geral, que nada tem a ver com o movimento paredista.
Os argumentos apresentados são tão frágeis como a anafaia, a primeira seda que o sirgo fia antes de formar o casulo. Passemos a contestar passo a passo os argumentos contrapostos.
A emenda constitucional n. 45/04 ao mencionar com todas as letras no parágrafo segundo do artigo 114 da Constituição Federal que o dissídio coletivo de natureza econômica agora só poder ser exercitado se as partes envolvidas no conflito o ajuizarem de mútuo acordo, criou iniludivelmente um pressuposto de procedibilidade do ajuizamento do dissídio coletivo que antes não existia, sendo que sem o atendimento desse requisito o dissídio coletivo de natureza econômica deve sim ser de pronto indeferido pelo Tribunal Competente, sabido que o direito de ação, em que pese preservado no texto da Lei Maior, ficou condicionado ao chamado exercício conjunto das partes, não mais se admitindo o ajuizamento unilateral do dissídio coletivo em epígrafe. A faculdade a que se reporta o dispositivo constitucional sob comento é de que as partes, querendo, podem sim ajuizar o dissídio coletivo, mas desde que atendido o novo pressuposto de sua admissibilidade, que é agora o mútuo consenso.
Como a Constituição Federal não contém palavras inúteis, resta a indagação de qual teria sido a teleologia da exigência do mútuo consenso como condição de procedibilidade do dissídio coletivo de natureza econômica. A resposta é simplista e indiscutivelmente lógica. A intenção do legislador constituinte foi acabar radicalmente com o vezo das partes se mostrarem pouco dispostas à negociação coletiva preferindo comodamente aninhar-se no seio protetor do paternalismo estatal, expediente que, sem dúvida, só contribui para enfraquecer ainda mais os sindicatos dos trabalhadores, que indolentemente destituindo-se de sua missão precípua de pacificar o conflito social pela via conciliatória, deixam cada vez mais dormentes os instrumentos de barganha e de pressão que poderiam ser utilizados contra o patronato, tornando-se extremamente subservientes ao intervencionismo estatal. É preciso acabar de vez com o vezo da preguiça e nada melhor para isto do que espicaçar as classes trabalhadoras, através de seus sindicatos, com a obrigatoriedade de se valerem de forma incontornável da negociação coletiva, porque sem ela a categoria profissional não teria como alcançar melhores condições de trabalho. O lema agora é o sindicato munir-se de predicamentos que o tornem apto para negociar com a contraparte, aprendendo assim a caminhar com as próprias pernas, sem a escora do paternalismo estatal.
Mostra-se de igual sorte frágil o argumento de que no Brasil a arbitragem não vingou, como acontece em outros países, principalmente nos Estados Unidos da América, sendo que as partes preferem sempre a interferência do Estado na solução dos conflitos coletivos. O argumento a par de coroar a preguiça sindical em nada aproveita, primeiro porque o fato de a arbitragem não ser comum no Brasil não significa que a mesma não possa ser paulatinamente incutida na índole dos brasileiros, máxime nos tempos atuais e após a edição da Carta Magna de 1988, que além de ampliar consideravelmente os direitos sociais no país, tornou o cidadão mais cônscio de seus direitos, em um despertar para a cidadania que acabou assoberbando os tribunais de demandas infindáveis. Como o Poder Judiciário não tem estrutura para solucionar de forma célere e eficaz toda esta multifacetada gama de demandas nada mais salutar do que incentivar os meios alternativos de solução de conflitos intersubjetivos de interesses, desiderato que vem sendo alcançado ainda de forma tímida com a arbitragem, de forma satisfatória com as comissões prévias de conciliação e que podem ainda ser melhor implementados com o uso compulsório da negociação no âmbito dos conflitos coletivos. Há sempre um começo para tudo na vida. O medo do novo e o apego ao tradicionalismo é que fazem surgir idéias misoneístas, avessas que são às novas táticas de se alcançar o progresso social. Pouco a pouco, porém, a arbitragem vai conquistar os brasileiros, até porque já disciplinado em diploma legal específico, e timidamente já instalados os primeiros tribunais arbitrais no país. A esperança é a de que em algumas décadas esses meios alternativos de solução de conflitos consigam desempenhar de forma relevante o seu papel social, pacificando pela via da auto-composição uma pletora de demandas que sem eles iriam desaguar e abarrotar os tribunais do país.
Igualmente não aproveita o argumento de que, no caso de arbitramento, a categoria que se sentisse prejudicada com o resultado antagônico às suas pretensões ficaria inclusive em sérias dificuldades para explicar a derrota aos componentes da categoria profissional, o que não aconteceria na solução heterônoma do conflito coletivo porque as partes tendem a aceitar sem maiores discussões a decisão judicial. Ora, as coisas não se passam bem assim. Mesmo na via heterônoma as partes corriqueiramente prolongam a discussão do conflito coletivo através da interposição de recurso ordinário para o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que tem competência para extinguir, rever ou extirpar as cláusulas controvertidas, tudo em consonância com o direito aplicável à espécie. Igualmente na arbitragem a matéria pode sim ser rediscutida pelo Poder Judiciário, a uma porque mostrar-se-ia inconstitucional a cláusula de não recorrer à via estatal, sabido que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direitos pode ser excluída convencionalmente da apreciação do Poder Judiciário, sendo certo que nos casos de nulidade da arbitragem por ofensiva, e.g., a direitos sociais indisponíveis, ou nos demais casos previstos em lei, a parte interessada poderá igualmente valer-se do Judiciário para colocar a solução do conflito coletivo em patamares mais equânimes que consultem aos interesses da categoria profissional reputada lesada ou prejudicada.
Outra falácia é a de que a exigência do mútuo consenso ora sob comento exterminaria a possibilidade de ajuizamento do dissídio coletivo de natureza jurídica, sequer mencionado no novo texto constitucional. O argumento é ingênuo e inconvincente, a uma porque o parágrafo segundo do art. 114 da Lei Maior, com muita sabedoria só reporta-se ao dissídio coletivo de natureza econômica ao exigir o comum acordo das partes, e isto tem sua explicação jurídica: como já salientado, a teleologia da exigência do comum acordo no dissídio coletivo de natureza econômica é acabar de vez com o paternalismo estatal, criando mecanismos jurídicos para que as partes aprendam de uma vez por todas a valer-se preferencialmente da negociação coletiva para por cobro aos conflitos sociais.
E, em se tratando de dissídio coletivo de natureza jurídica, não tem mesmo sentido falar-se em exigência de mútuo consenso, porque quando as partes optam pelo seu exercício, já ficou superada, no passado, a negociação coletiva, seja no acordo coletivo e na convenção coletiva, ou após julgado o conflito coletivo de natureza econômica, com a própria sentença normativa, sendo que, ultrapassada e já sepultada a fase conciliatória, o interesse das partes restringe-se a discutir em juízo qual seria o alcance jurídico de determinadas cláusulas sindicais inseridas nos dois primeiros instrumentos coletivos atrás nominados ou de determinadas cláusulas julgadas procedentes no âmbito da sentença normativa. Por este motivo o legislador constitucional silenciou-se sabiamente no tocante ao dissídio coletivo de natureza jurídica, que continua existindo normalmente no mundo jurídico após a emenda constitucional n. 45/04. O silêncio do legislador constituinte nesta seara é até mesmo eloqüente, porque se não foi proibido o seu uso é porque o mesmo é juridicamente manejável, conclusão inarredável a que se chega através de um lídimo exercício de interpretação do texto conforme a própria Constituição, que privilegia o direito de ação, colocando à disposição das partes mecanismos jurídicos de defesa de seus múltiplos interesses, mesmo que se restrinjam esses à discussão do alcance desta ou daquela norma jurídica ou desta ou daquela cláusula sindical ou cláusula normativa que afloram no âmbito dos acordos coletivos, convenções coletivas ou da sentença normativa.
E nem se diga que, não alcançado o mútuo consenso, posto agora como condição de procedibilidade do dissídio coletivo de natureza econômica, ou seja, desde que uma das partes, a categoria econômica, maliciosamente, com abuso de poder ou má-fé, negue o seu consentimento para a solução do conflito, não mais existiriam no país acordos coletivos, convenções coletivas ou mesmo qualquer decisão judicial de cunho coletivo, situação caótica que exterminaria de vez com toda e qualquer pretensão sindical da categoria profissional. O argumento pelo seu alto teor apocalíptico poderia impressionar apenas aqueles que não acreditam no império do Direito e da Justiça. Explico-me melhor: o Direito positivo vigente veda de forma taxativa as chamadas cláusulas puramente potestativas, ou seja, aquelas que condicionam o surgimento, o aparecimento, a preservação ou a extinção de direitos à vontade atrabiliária e sibilina de uma das partes.
A questão crucial aqui é indagar se a categoria econômica ao recusar de comum acordo o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica estará fazendo valer o uso moderado e legítimo de seu direito de recusa ou se, pelo contrário, está a impor cláusula potestativa pura à parte adversa, impedindo-a de exercitar um direito que a Constituição Federal coloca ao seu dispor. Como aferir se a conduta da categoria econômica é ou não abusiva? A resposta que me parece mais razoável é de aquilatar se a categoria profissional contraposta tem efetivamente poder de barganha contra o patronato. Se tratar de um sindicato forte, expressivo, situado, por exemplo, na região do ABC paulista, a recusa da contraparte em conceder o seu consentimento para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica não estaria, a meu ver, empecendo de forma peremptória a solução do conflito coletivo. Ora, tendo poder de barganha, o sindicato forte simplesmente poderá valer-se do direito de greve e este exercício, dependendo de seus desdobramentos práticos, pode trazer grandes malefícios ao patronato, forçando-o à negociação coletiva e colocando assim fim ao impasse jurídico surgido entre as partes. Se o sindicato dos trabalhadores for inexpressivo, tíbio, sem poder de barganha contra o patronato e sem meios de exercer com sucesso o direito de greve, a recusa de consentimento da categoria econômica para o ajuizamento conjunto do dissídio coletivo de natureza econômica pode sim caracterizar a recusa abusiva, injurídica ou de extrema má-fé que obsta potestativamente o exercício do direito de ação coletiva por parte do operariado.
Neste contexto parece-me que a parte prejudicada poderá sim, de imediato, ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica e nele requerer de forma incidental o suprimento judicial da recusa da categoria econômica contraposta. Sopesando o caso dos autos, o Tribunal do Trabalho poderá, desde que visualizada má-fé, abuso de direito ou ilicitude por parte da categoria econômica, outorgar o suprimento judicial suplicado, quando sua decisão terá a mesma eficácia jurídica do consentimento denegado, possibilitando assim a tramitação normal do dissídio coletivo de natureza econômica, até seu final julgamento. Neste contexto poderiam ser aplicadas regras tanto de direito civil, que regulam o suprimento judicial nos casos que especifica, como também regras processuais próprias da execução de obrigação de fazer, sendo que neste aspecto o artigo 641 do CPC, de forma sábia, enfatiza que condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.
No caso do dissídio coletivo de natureza econômica, como a recusa de declaração de vontade (outorga de consentimento da categoria econômica) é fruto de má-fé ou de ilicitude, a simples decisão incidental dessa circunstância produzirá desde logo todos os efeitos da declaração não emitida, ficando atendida assim a condição de procedibilidade do dissídio coletivo de natureza econômica tal como exigida no parágrafo segundo do artigo 114 da Magna Carta, com a nova redação imprimida pela EC n. 45/04, quando o Tribunal, frustrada que seja qualquer negociação, instruirá normalmente o dissídio coletivo. Esta interpretação, além de privilegiar a autoridade do legislador constituinte, que quis de forma explícita e irretorquível criar uma condição de procedibilidade do dissídio coletivo de natureza econômica, minimiza e resolve possíveis situações concretas de denegação abusiva de outorga de consentimento, preservando excepcionalmente o manejo unilateral do dissídio coletivo de natureza econômica, com o mínimo possível de intervencionismo estatal.
A exegese que aqui se busca está inclusive em sintonia com a reforma sindical do Governo Lula que busca a negociação coletiva em todos os níveis, como principal instrumento de regulação dos direitos trabalhistas, instituindo assim um cenário de autonomia privada coletiva, mediante a notória estimulação da composição voluntária dos conflitos coletivos. Deve ser lembrado neste contexto que a negociação coletiva, sabido que a intenção reformista é extinguir de vez com o poder normativo da Justiça do Trabalho, passa a ser um instrumento privilegiado de regulamentação de direitos trabalhistas. Como a reforma do Poder Judiciário veio antes da reforma sindical, o terreno jurídico já foi preparado no sentido de, ali restringir-se ao máximo o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, através da explícita exigência do comum acordo das partes envolvidas no conflito coletivo como pressuposto de procedibilidade daquela ação coletiva, sendo que com a reforma sindical extingue-se definitivamente com o poder normativo, ampliando-se ao máximo o poder negocial das entidades de classe, que passa a ter o condão, inclusive, de suprimir até mesmo restrições de ordem legal que emperram a negociação coletiva.
Ora, Sr. Presidente, trata-se de profunda contradição. Na nossa opinião, isso fere o inciso XXXV do art. 5º, que impõe que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Além de ser inconstitucional, reflete a incompreensão de que todos os conflitos trabalhistas podem ser resolvidos no âmbito