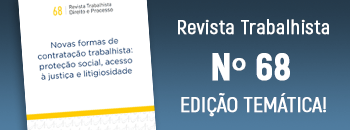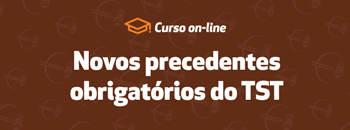Todos os dias algum fato demonstra, irrefutavelmente, que as mulheres são submetidas a uma violência estrutural, assentada na cultura do patriarcado que, ao longo da modernidade, sempre resistiu a lhes estender e efetivar direitos. Ainda assim, pode parecer estranho, à primeira vista, imaginar que, à luz do ordenamento jurídico, haja espaço para incluir nos processos judiciais olhares particulares como a perspectiva de gênero.
Mas é justamente o Estado Democrático de Direito que exige esse entendimento, na medida em que garante a todas as pessoas igualdade não apenas formal, mas, sobretudo, material. A dimensão substancial do direito somente se realiza quando o texto da norma é transposto para a faticidade, isto é, para uma realidade palpável.
E como concretizar o direito senão considerando o caso concreto no processo de decisão? O ordenamento jurídico é constituído de textos normativos impregnados de idealidades que somente se corporificam quando relacionados à realidade (MÜLLER, 2008).
Assim como um médico - a rigor - não prescreve um medicamente senão após realizar o exame do paciente, não é possível remover o caso da criação da norma levada a efeito no processo de decisão (o enunciado da norma está para sua concretização assim como o esparadrapo e o antisséptico estão para um curativo).
Essa compreensão é, em parte, compatível com a ideia de aplicação normativa no pensamento aristotélico, que, em seu debate com Platão no campo da ética, revela as especificidades da questão ética concreta (CATTONI DE OLIVEIRA, 2016, p. 53), ao questionar a vantagem do conhecimento do bem em si, desvinculado da prática.
Em nosso país, desde 27/11/1995, quando foi ratificada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, o Brasil se obrigou a adotar, sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência; a empenhar-se para abster-se de todo tipo de violência contra a mulher (inclusive a perpetrada ou tolerada pelo Estado) e a velar para que as autoridades e instituições ajam de acordo com essa obrigação.
Reconheceu, ainda (reforçando expressamente o que já consta da Constituição da República), o direito da mulher de exercer livre e plenamente os direitos humanos, reconhecendo que a violência contra a mulher impede ou anula o exercício desses direitos. Antes disso, o Brasil já havia ratificado, em 01/02/1984, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW em inglês), por meio da qual se comprometeu a promover igualdade entre homens e mulheres para acesso, gozo e exercício de direitos, sem qualquer tipo de discriminação.
De maneira inescusável, o direito brasileiro assegura à mulher proteção ampla, que não vem entregando, mas que, necessariamente, deve ser considerada nos julgamentos e demais atos praticados social e institucionalmente.
Se o caso Mariana Ferrer escancarou a desvalorização da mulher pelo sistema de justiça e a negação peremptória do reconhecimento do direito à igualdade, é necessário lembrar que não só os atos procedimentais, mas a própria interpretação do direito tem carecido de análise desvinculada do costume estruturado na sociedade, que inferioriza a mulher e os seus direitos.
No ambiente laboral, os casos de violência são inúmeros, a prova é dificílima - especialmente em casos de assédio sexual, perpetrado em geral, sem testemunhas - e os juízes, em muitos dos casos, são indiferentes.
Basta ver que não há nas decisões, em geral, considerações que diferenciem a violência praticada em razão do gênero; não se percebe nas fundamentações das sentenças a incorporação de parâmetros fixados nas convenções internacionais sobre discriminação por gênero; não há, no campo das estatísticas judiciais, levantamentos para constatar o que se intui: mulheres sofrem muito mais assédio moral - ainda mais exacerbado em casos de assédio sexual - do que homens no mundo do trabalho.
É premente que o sistema de justiça assuma a responsabilidade de concretizar os parâmetros normativos de proteção à mulher, rompendo o arranjo que acaba por naturalizar a violência e, por consequência, negar vigência à Constituição e aos tratados de direitos humanos a que o Brasil se obrigou.
*Deizimar Mendonça Oliveira, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Juíza do Trabalho titular da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, coordenadora do Comitê Permanente de Gestão da Diversidade e Inclusão do TRT da 23ª Região, integrante da Comissão Anamatra Mulheres