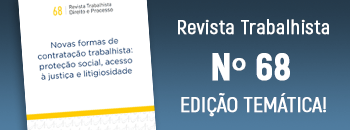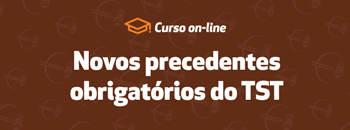A Lei 13.467/2017, dita "Reforma Trabalhista", ao regulamentar o teletrabalho -- de modo pífio, inadequado e incompleto --, pretendeu excluir o direito do teletrabalhador às horas extraordinárias, inserindo-o, sem mais, no inciso III do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. Com isso, estabeleceu uma distinção discriminatória entre trabalhadores presenciais e teletrabalhadores que, a meu sentir, não tem qualquer eco no texto constitucional em vigor. E é assim porque os incisos XIII e XVI do art. 7º da Constituição, ao estabelecerem os direitos constitucionais à duração máxima da jornada e ao adicional de remuneração para horas extraordinárias -- dois direitos diversos entre si, diga-se --, aplicam-se a todos os "trabalhadores urbanos e rurais", estejam ou não trabalhando à distância. E, para mais, as exceções históricas dos incisos I e II do art. 62 da CLT, para trabalhadores com rotinas predominantemente externas e para ocupantes de cargos de gestão, foram admitidas apenas em razão da impossibilidade razoável de controle das jornadas, o que (a) não se aplica, em absoluto, aos teletrabalhadores, e (b) não significa, em absoluto, que teletrabalhadores não tenham direito à desconexão do trabalho.
Neste momento, o Congresso Nacional debruça-se sobre propostas de regulamentação do teletrabalho. Há de todos os matizes e tendências, nas mais direções. Antes de avançar, porém, entendo ser primordial lançar, a respeito desses temas -- desconexão laboral, teletrabalho, saúde do trabalhador e aspectos conexos -- uma visão crítica, que aparentemente tem se perdido em alguns arrazoados.
E, nesse particular, peço licença para uma breve digressão. Ao contrário do que amiúde se pensa ou lê, nem toda "crítica", em ciências sociais, é necessariamente marxiana (embora as marxianas sejam, em geral, as mais bem fundadas); basta ver as tantas "críticas" produzidas, e.g., por Immanuel Kant ("Kritik der reinen Vernunft", "Kritik der Urteilskraft", "Kritik Der Praktischen Vernunft"), quase um século antes de Marx. Aliás, mesmo na filosofia, quando se fala em "teoria crítica", desde logo se pensa na Escola de Frankfurt -- com Adorno, Horkheimer, Habermas, W. Benjamin etc. --, que pretendeu ser "crítica" exatamente aos rumos do marxismo na primeira metade do século XX. Citem-se ainda, entre tantos, Michel Foucault e Zygmund Bauman, ambos pensadores críticos que, de modos diversos, afastaram-se do marxismo tradicional (com ganhos, a meu ver). Pensar criticamente, em suma, é basicamente pensar livremente, sem peias dogmáticas automatizantes, a partir de um referencial claramente estabelecido, de corte axiológico (para mim, o humanismo), de corte fático (para mim, a dialética material, inclusive apreendendo melhor as relações de tipo "Basis vs. Überbau", na esteira de longa tradição marxiana: há que pensar os aparatos culturais -- inclusive o Direito -- a partir das tensões sociais subjacentes, próprias do grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais) e de corte normativo (para mim, a Constituição da República e toda a normatividade -- nacional e internacional -- que acede ao nosso "bloque de constitucionalidad"). A partir desse tripé, entendo ser possível construir uma teoria normativa mais afinada com as necessidades de seu tempo, sem castrações dogmáticas (mas com segurança jurídica), que certamente não "revolucionará" coisa alguma, nem se perderá com utopias futurológicas; mas, nada obstante, terá aptidões para a transformação social, realizando melhor os valores constitucionais humanistas e humanitários.
Mas voltemos ao nosso tema: o direito constitucional à desconexão do trabalho. E, para tanto, peço licença cabotina e metodológica para reproduzir, em grande medida, o prefácio que preparei recentemente para a obra "Desconexão: um direito fundamental do trabalhador", da lavra dos professores Rodrigo Goldschmidt e Viviane Maria Caxambu Graminho.
Dizia então que, ao examinar o art. 7º, XIII, da Constituição da República, não são poucos os manuais de Direito do Trabalho que ali divisam o "direito fundamental à limitação da duração do trabalho" (sob jornada de oito horas e duração semanal de quarenta e quatro horas), sem maiores desdobramentos; e, logo adiante, confrontando o inciso XVI, enunciam o que seria a sua "norma-sanção": o serviço extraordinário, por inobservância daqueles limites, desafia remuneração superior em no mínimo cinquenta por cento à das horas normais. Fecham, nesses termos, o círculo semântico pertinente. E, a depender da necessidade de síntese, sequer estabelecem alguma correlação com o direito à saúde (art. 6º) e o princípio da melhoria contínua (art. 7º, XXII -- também identificado, a propósito, como "princípio do risco mínimo regressivo", na feliz expressão de Sebastião Geraldo de Oliveira).
Quando, porém, se compreende a norma do art. 7º, XIII, da CRFB em perspectiva holística -- diria "gestáltica", como usualmente faço nos meus textos de Direito Ambiental do Trabalho (homenageando a Gestalt--theorie de M. Wertheimer) --, e quando se alcança uma percepção mais aguda da realidade socioeconômica sobre a qual tal norma se deita, conclui-se que o real alcance e sentido da referida desprega-se do texto singelo do inciso XIII: a rigor, em perspectiva estritamente normativa, não estamos diante de uma mera liberdade negativa -- a de não ser instado a trabalhar por mais que oito horas por dia --, mas, antes, contemplamos um direito fundamental de conteúdo positivo, com irrecusável dimensão promocional (inclusive no sentido dos "Rechte auf positive Handlungen" de Robert Alexy): é obrigação do empregador assegurar aos seus empregados o direito à desconexão laboral, a bem da preservação de sua integridade física e psíquica; e é dever dos poderes constituídos promover políticas públicas que garantam e fomentem a fruição ótima desse direito.
Nessa alheta, o direito à desconexão laboral deve ser redescoberto -- se não ressignificado -- para além dos estritos lindes do art. 7º, XIII, da Constituição, como ainda para além dos mecanismos legais e forenses que o reduzem à mera monetização (exatamente porque os autores amiúde se esquecem que, a par dos incisos XIII e XVI do art. 7º, há o seu inciso XXII, como também há o art. 225, caput, e o art. 200, VIII, da CRFB: qualquer leitura hermenêutica que não os contemple todos, em perspectiva histórica, lógico-sistemática e teleológica, será fatalmente uma leitura equivocada). Isso é ainda mais verdadeiro e necessário em tempos de coronavírus e de teletrabalho, porque, à vista do corrente "ambiente normativo" (sim, na exata acepção do "normatives Umfeld" engendrado pela teoria estruturante de F. Müller), o direito à desconexão laboral reconfigura-se como direito à desconexão digital: voltando a Bauman, o "novo normal" que assaltou a civilização acelerou os processos sociais de "liquefação" do tempo, de modo a praticamente dissolver as fronteiras empíricas entre o tempo laboral e o tempo pessoal. Do ponto de vista estritamente sanitário, esse é um caminho tenebroso; e a engenharia de retorno estará, doravante, sob a responsabilidade dos juízes e dos juristas.
Não por outra razão, aliás, a Diretiva n. 2003/88/CE ("Relativa a determinados aspectos da organização do tempo de trabalho"), do Parlamento Europeu (4.11.2003), dispunha em seu art. 6º, há quase vinte anos, que
os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para que, em função dos imperativos de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores: a) a duração semanal do trabalho seja limitada através de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas ou de convenções coletivas ou acordos celebrados entre parceiros sociais; b) a duração média do trabalho em cada período de sete dias não exceda 48 horas, incluindo as horas extraordinárias, em cada período de sete dias" (g.n.)[1]
Cumpre, pois, descortinar, ingente e urgentemente, as interações dinâmicas entre o direito à desconexão laboral e os outros direitos fundamentais, como o direito à saúde e à segurança -- eis o fio de Ariadne --, o direito à privacidade e o direito ao lazer; quanto aos feitios nefastos da organização do trabalho para a repartição do tempo produtivo, inclusive à luz da psicodinâmica do trabalho; e, por fim, à luz da capacidade de aprendizagem das normas constitucionais (J. J. Gomes Canotilho), que não podem estagnar no tempo frio do verbo. Valho-me, nessa esteira, das palavras dos próprios Goldschimdt e Graminho[2], na obra acima citada, como já me vali alhures:
[...] o indivíduo que tem a prerrogativa de se desconectar das atividades laborais ao final da jornada, nos finais de semana e no período de férias, além de ter a sua vida privada preservada, possui mais potencial de saúde para usufruir dos momentos de lazer ao lado da família e amigos, bem como tempo para estudar e buscar o aperfeiçoamento profissional. Ou seja, além de ter preservada sua cidadania, desfruta de uma vida digna.
E então dizia: eis a síntese perfeita e integrada, para a qual quero arrebatar o meu leitor. A simplicidade é, mesmo, o último grau da sabedoria (Kahlil Gibran). Ela poderá sinalizar as melhores respostas para este momento ímpar, de pronunciada crise sanitária, quando exatamente se veem visceralmente desafiados os simbólicos limites normativos do art. 7º, XIII, da Constituição (de jornadas virtuais de trabalho que já não se controlam, sob a conivência do inconstitucional art. 62, III, da CLT e da própria inviolabilidade domiciliar). Que tais reflexões animem outras, sempre na perspectiva maior de que, desde o Peel’s Act de 1802, duração do trabalho e saúde do trabalhador são temáticas siamesas, naturalmente indissociáveis, que não se podem apartar em qualquer hermenêutica razoavelmente séria (a despeito do igualmente inconstitucional art. 611-B, par. único, da CLT). E que precipitem, no tempo, o dia ainda longínquo em que a "ordinarização" das horas extraordinárias será percebida como um fenômeno "ordinário" na pior acepção do adjetivo.
E que, ao final, não se diga haver aqui uma "escolha de Sofia": há tudo, menos isto.
Nem poderia. O leitor bem sabe que "SophieŽs Choice" é na verdade o título de um romance de William Styron, publicado em 1979 (originalmente pela Random House e com edições atuais pelo selo Vintage), vencedor do National Book Award em 1980 e base para filme homônimo de 1982. No romance, a polonesa Sophie Zawistowska, judia sobrevivente do Holocausto alemão, narra ao personagem principal, o escritor Stingo, a trágica escolha que teve de fazer nos seus tempos de Auschwitz: viu-se obrigada a indicar, entre seus dois filhos, Jen e Eva, qual deveria morrer por gaseamento e qual seguiria vivo, embora nos campos de concentração. Sophie escolhe sacrificar Eva, de oito anos, o que a preenche de culpa e angústia pelo restante da sua vida (a ponto de -- escusas pelo spoiler -- suicidar-se ao final da trama).
Em termos estritamente éticos, Sofia não tinha como fazer uma escolha "melhor" ou "pior". Qualquer escolha seria terrível e desumana. A desumanidade, a rigor, estabeleceu-se antes, na obrigação da escolha; e, ao depois, apenas se comunicou ao ato de declaração que a consumaria. Quando, ao revés, tratamos da "escolha" entre a desconexão razoável, por um lado, ou, por outro, a monetização das conexões intermináveis, por outro (i.e., a referida "ordinarização" das horas extraordinárias), não há maiores perplexidades para a escolha, seja no plano ético, seja mesmo no plano normativo (desde que bem orientado): impende prevalecer a integridade psicofisiológica da pessoa humana -- e, logo, a sua dignidade --, mesmo contra a sua própria vontade eventualmente declarada (porque a colonização capitalista "normaliza" a reificação totalizante: o próprio indivíduo percebe-se como mercadoria e "vende-se" cada vez mais profundamente, se não lhe forem antepostas mínimas peias jurídicas). Esse, é claro, é um raciocínio por limites (que admitirá matizações e proporções, a depender das concretas circunstâncias de cada caso); mas, no limite, deve prevalecer a integridade da pessoa, não a sua autoimolação pelo ganho econômico.
Ao fim e ao cabo, o mais crucial será evitar que, à maneira do romance de Styron, a desumanização se estabeleça nas premissas da escolha (e não nela própria, consumada): construir-se, p. ex., a "ideia" de que -- como já tenho ouvido -- a estatuição de balizas mínimas de desconexão para o teletrabalhador, devidamente regulamentadas, "matará" o fenômeno do teletrabalho e as suas alvissareiras possibilidades econômicas. Aqui, sim, haverá uma repudiável escolha de Sofia: trabalhar (sem necessariamente repousar) ou repousar (sem necessariamente trabalhar).
Não cheguemos a isto.
*Guilherme Guimarães Feliciano, professor Associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho -- ANAMATRA (gestão 2017-2019). Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP (15ª Região)
[1] E, para mais, na 4ª consideranda, lê-se ainda que "[a] melhoria da segurança, da higiene e de saúde dos trabalhadores no trabalho constitui um objectivo que não se pode subordinar a considerações de ordem puramente económica" (g.n.).
[2] GOLDSCHMIDT, Rodrigo. GRAMINHO, Vivian Maria Caxambu. Desconexão: um direito fundamental do trabalhador. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, passim.
Guilherme Guimarães Feliciano*