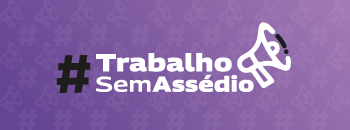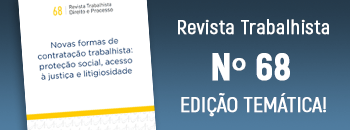Guilherme Guimarães Feliciano
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP e presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA)
Em 3 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro declarou, em entrevista, que o seu governo estaria "estudando" a extinção da Justiça do Trabalho, a ser levada adiante, como pauta política do Poder Executivo, a depender do clima institucional dos próximos meses. Uma declaração polêmica, para dizer o mínimo, que depois foi felizmente desmentida, como noticiou o presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Pode-se, afinal, antecipar como seria um Brasil sem a Justiça do Trabalho?
Os números e as circunstâncias podem talvez nos dar algumas pistas.
A Justiça do Trabalho não é uma "jaboticaba brasileira", como dizem os incautos e os elitistas. Jurisdição trabalhista há em todo o mundo. E mesmo o modelo brasileiro, de uma autonomia institucional construída sobre o tripé da diferenciação financeiro-estrutural (orçamento e pessoal próprios), da diferenciação funcional (corpo próprio de magistrados organizados em carreira autônoma) e da diferenciação instrumental (litígios regidos por regras específicas de procedimento), encontra eco em modelos adotados por países do dito "primeiro mundo", como na Alemanha, na Dinamarca, na França (primeiro grau) e na Grã-Bretanha. Na América Latina, o Chile a extinguiu, sob a égide de um regime liberal-ditatorial, e teve de recriá-la, anos depois. E seria realmente mais simples e prático "distribuir" aos trabalhadores queixosos os valores que reclamam, economizando mais da metade do orçamento que se tem dedicado à Justiça do Trabalho, como se alardeia por aí? Essa é a maior das balelas.
Observe-se, desde logo, que a Justiça do Trabalho não é uma empresa estatal. Não precisa -- e a rigor nem deve -- "dar lucros" ou gerar excedentes financeiros para a União. É que os serviços de justiça prestam-se basicamente àqueles papéis que o grande Candido Dinamarco apontava como sendo os escopos do processo judicial: pacificação com justiça, decisão com autoridade pública, atuação concreta da lei (i.e., do Direito objetivo). Essa é a sua missão. Logo, o que a Justiça do Trabalho "gera" -- ou deve gerar -- é, a uma, pacificação social e consciência cidadã (inclusive para patrões que sonegam direitos trabalhistas, mas também para empregados que se prestam a aventuras jurídicas); a duas, a afirmação do Estado de Direito, concretizando as liberdades e os direitos sociais; e, a três, a atuação do direito substantivo, sinalizando para a segurança jurídica (i.e., a interpretação "estabilizada" da lei trabalhista, que é produto da ciência e do tempo). Nada disso é mensurável em reais. A rigor, valendo tal critério de "custo/benefício", caberia extinguir não apenas a Justiça do Trabalho, mas boa parte do Poder Judiciário brasileiro. Qual o "lucro" da Justiça Eleitoral ou das unidades criminais? Qual o "lucro" gerado pelo Parlamento ou pelas Forças Armadas? E, no entanto, são indispensáveis.
Logo, um Brasil sem Justiça do Trabalho seria um Brasil com conflitos coletivos cada vez mais intensos batendo à porta dos tribunais comuns, já assoberbados com outros temas, e sem as políticas públicas hoje coordenadas nacionalmente para, p. ex., prevenir -- especialmente pela via da negociação -- a paralisação de categorias profissionais de expressão nacional, como a dos aeronautas, a dos petroleiros e a dos correios e telégrafos. O mesmo se diga, na devida projeção e proporção, quanto às categorias de dimensão regional ou local, distribuídas pelas vinte e quatro regiões do país.
Em tempos nos quais a grande política dirige esforços e discursos para a conciliação nacional e para a contenção de gastos, a Justiça do Trabalho tem relevante papel a cumprir. Seu abalo, ao revés, sinaliza o oposto: tensão, ruptura e dispêndio. Não é, a bem dizer, uma escolha de Sofia. Chega a ser intuitivo: onde se busca "ordem" -- ordem social, diga-se bem (o que significa, em acepção constitucional, ordem com justiça) --, não se alimenta a desordem.