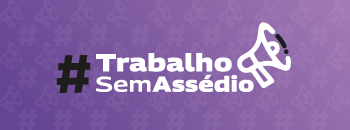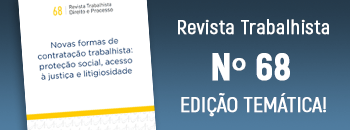Para o juiz Guilherme Guimarães Feliciano, 2017 foi "um ano de escombros" para o mundo do trabalho. Em relação a 2018, a perspectiva é de "um horizonte de névoas".
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Feliciano critica os defensores do "Estado mínimo".
Para um ramo judiciário "cuja função constitucional é justamente interferir em relações contratuais privadas", notadamente nas relações de emprego, significa "preordenar a autoextinção, evocando todo um ideário político setecentista que a civilização superou", afirma.
Ele registra que já foram ajuizadas mais de dez ações diretas de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, que põem em xeque diversos pontos da reforma trabalhista.
Feliciano aguarda com expectativa as eleições nacionais de 2018, quando "a população brasileira â e não, por ela, o Parlamento â poderá finalmente dizer, de própria voz, qual projeto de país quer para si".
Guilherme Guimarães Feliciano é juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté (SP). É Professor Associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
***
O ano de 2017 não foi exatamente animador para a Justiça do Trabalho. E, digo por mim, tanto menos para o Direito do Trabalho.
Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho esteve sob a presidência de quem ─ digo-o com todo respeito ─ houve por bem afirmar, em audiência pública no Senado da República, que “o melhor Estado é um Estado menor”, após fazer severas críticas à jurisprudência consolidada do próprio tribunal que preside (sabendo ser, no particular, uma voz minoritária).
Nada contra convicções ultraliberais, que francamente estão na moda.
Mas, na perspectiva de um ramo judiciário cuja função constitucional é justamente interferir em relações contratuais privadas (e, notadamente, nas relações de emprego), buscando equalizar as tensões entre o capital e o trabalho e fazer valer a letra ─ e a semântica ─ da Constituição-cidadã, defender o “Estado mínimo” é nada menos que preordenar a autoextinção, evocando todo um ideário político setecentista que a civilização superou com o alvorecer do constitucionalismo social (que se inaugurava justamente em 1917, sob o pálio da Constituição mexicana ─ há um século, portanto).
Não por outra razão, aliás, a Lei nº 13.467/2017 quis acorrentar a “criatividade” dos tribunais do trabalho com um novo princípio legal, desses que se rivalizam com o melhor do “non-sense” jurídico mundial: o art. 8º, §3º, da CLT passa a enunciar um “princípio da intervenção mínima”, a reger apenas a Magistratura do Trabalho, qual voto de desconfiança velado do legislador brasileiro. O que isto insinua, caro leitor?…
Além disso, com a perigosa associação entre as reações conservadoras à 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho (realizada pela ANAMATRA em Brasília, nos dias 9 e 10 de outubro de 2017, para debater a mesma lei, dita da “reforma trabalhista”) e os fortes ventos liberais que ainda sopram do leste (e o leste, para nós, sempre foi a Europa ocidental), o mês de outubro ressuscitou a cantilena da extinção da Justiça do Trabalho, a reboque de uma proposta de emenda constitucional que, a rigor, nunca existiu formalmente nesta legislatura.
Aliás, a ideia da “absorção” da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal da União é tão engenhosa quanto seria a de despejar todo o Oceano Atlântico sobre o Mar Mediterrâneo. Águas diversas, espaços e tamanhos gritantemente díspares. No entanto, a bravata animou muita gente que, ao fitar o retrovisor da História, pensa sempre estar fitando o para-brisa.
Supor que a ordem social brasileira possa prescindir do Direito do Trabalho, e que o Poder Judiciário nacional possa prescindir da Justiça do Trabalho, é quase o mesmo que supor que a Humanidade possa prescindir do século XX.
Já tínhamos, há duzentos anos, contratos de trabalho celebrados com plena liberdade, sem a intervenção do Estado. Não resultou bem: seu legado foi um legado de ignomínias humanitárias (a que denomino, em aulas, de “horrores das revoluções industriais”). E, para que nunca mais fossem vistas, os Estados passaram a legislar a respeito ─ sob genuína vocação universal, como atestaria a criação da Organização Internacional do Trabalho (1919) ─, estabelecendo, para a posteridade, o “minimum minimorum” da cidadania social.
Poderíamos retroceder? Estou convicto de que não. A civilização não retrograda. Evolui, preservando suas conquistas. Ou nosso fim seria o retorno à barbárie.
Aliás, o caso da reforma trabalhista é, a propósito, emblemático: O Peel’s Act de 1802 (ou“Health and Moral’s of Apprentices Act”), considerado a primeira lei trabalhista da contemporaneidade, foi editado precisamente para fazer frente ao adoecimento de jovens trabalhadores na indústria têxtil algodoeira da Inglaterra oitocentista. Entre as suas várias medidas de prevenção, encontrava-se justamente a limitação da jornada dos trabalhadores daquele segmento, como forma de amenizar o problema (que, à altura, já era percebido como uma crise de saúde pública).
Duzentos e quinze anos depois, o gênio legislativo brasileiro vem declarar, no “novo” art. 611-B da CLT (em seu parágrafo único), que “regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho”… E, não bastasse, reservam à novidade a eufemística expressão “modernização trabalhista”! Piada histórica de mau gosto. Não fosse trágica.
E o que esperar de 2018?
De seguro, névoas. Um nebuloso horizonte de incertezas.
No STF, já passam de dez ações diretas de inconstitucionalidade, que põem em xeque diversos pontos da reforma trabalhista (terceirização de atividade-fim, contrato de trabalho intermitente, novas condições da assistência judiciária gratuita [?] na Justiça do Trabalho, novo regime legal do depósito recursal trabalhista, tarifação das indenizações por danos extrapatrimoniais, extinção da compulsoriedade da contribuição sindical legal etc.). No TST, nas primícias de fevereiro, far-se-á um esforço de ampla revisão das súmulas de jurisprudência, em razão da própria Lei n. 13.467/2017 (conquanto ainda subsistam, em relação a quase todos os novos temas que agora se tornam polêmicos, imensas dúvidas jurídicas de interpretação).
E, para mais, o mercado de trabalho não reagiu como se cogitava (ou como esperavam os próceres da reforma): no primeiro mês subsequente à profunda alteração legislativa, não se criou uma única vaga nova de emprego; ao contrário, fecharam-se 12,3 mil vagas formais.
Por outro lado, houve na Justiça do Trabalho, de imediato, vertiginosa queda do número de novas ações, exponencial o suficiente para levantar suspeitas em torno de sua suposta “bondade”.
No TRT da 4ª Região (RS), p. ex., a média de novos processos trabalhistas entre 11 e 17 de novembro foi de 173, enquanto na semana imediatamente anterior (a reforma entrou em vigor no dia 11/11) a média foi de 2.613. Isto parece revelar que, afinal, a litigiosidade não caiu propriamente; foi, sim, antecipada. E, naquilo em que acaso venha a se reduzir, reduzir-se-á sobretudo pelo receio de litigar sob as novas regras dos tribunais trabalhistas. Incutir temor em jurisdicionados é uma boa maneira de assegurar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF)?
Mas há, no final de 2018, uma centelha de inflexão. O Brasil ─ e, como ele, a própria Magistratura laboral ─ dividiu-se esquizofrenicamente após dezembro de 2015.
Tornou-se quase impossível defender o Estado social sem atrair a pecha de “bolivariano” (ou quiçá “mortadela”); ou, ao revés, reconhecer boas coisas no liberalismo político (porque há, sim, boas coisas, notavelmente reveladas nas liberdades públicas dos novecentos) sem merecer a alcunha de “tatcherista” (ou quem sabe “coxinha”).
Mas já se aproximam, a largos passos, as eleições nacionais de 2018. Quando outubro chegar, a população brasileira ─ e não, por ela, o Parlamento ─ poderá finalmente dizer, de própria voz, qual projeto de país quer para si. Com que tônicas, com quais sacrifícios e sob quais prioridades. Quando a esse respeito houver mais certezas, essas tantas névoas começarão a se dissipar. No mundo do trabalho, seguramente. E, estou certo, não apenas nele.