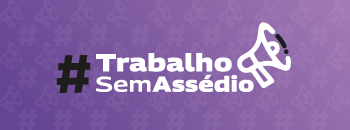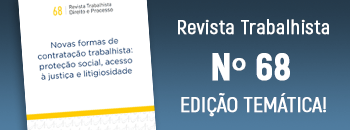Texto se constitui na maior mudança na legislação do trabalho no país desde a instituição da CLT
Ofuscado pelos debates sobre a reforma da Previdência e discutido quase que imediatamente após a aprovação do projeto da terceirização, o terceiro eixo das propostas de reformulação do mundo do trabalho brasileiro, a reforma trabalhista, tramitou a jato na Câmara dos Deputados. Na noite dessa quarta-feira - menos de 48 horas antes da greve geral organizada justamente para protestar contra as reformas, e depois de a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades vinculadas à Justiça do Trabalho entregarem à presidência da Casa um manifesto solicitando a suspensão da tramitação - a reforma foi aprovada em Plenário por 296 votos a 177.
O fato de o texto se constitui na maior mudança na legislação do trabalho no país desde a instituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, com a alteração de 117 pontos da lei, não demoveu a base aliada de aprová-lo com celeridade. Nem as informações de que a maior parte da população não sabe como ela afeta sua vida. E menos ainda o conhecimento por parte do governo de que não conta com aprovação suficiente da sociedade para implementar as mudanças.
A falta de atenção sobre as informações do mundo do trabalho no Brasil ficou evidente na própria quarta-feira. Horas antes da aprovação, o IBGE divulgou um estudo, um suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, intitulado "Relações de Trabalho e Sindicalização" e realizado em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destacando as condições ainda tênues de avanço em relação ao chamado "trabalho decente" no país. Três informações ganharam destaque no universo de 51,7 milhões de pessoas pesquisadas: o 1,5 milhão de trabalhadores remunerados que não podiam sair do trabalho por causa de débitos financeiros; os 9,8 milhões (18,9%) contratados por meio de intermediário (pessoa ou empresa); e os 51% (26,2 milhões) que não recebiam benefícios sociais complementares.
Apesar do desconhecimento da população, os impactos da reforma incendiaram a discussão nos meios acadêmicos e jurídicos e evidenciaram as dificuldades de diálogo entre entidades que representam trabalhadores e empregadores. Pesquisadores e especialistas não divergem sobre a existência de tendência mundial na qual o modelo de emprego clássico está perdendo terreno, enquanto cresce o trabalho por conta própria e outras formas de trabalho fora do âmbito da relação tradicional empregador-trabalhador, como fartamente documentado em relatórios dos organismos que se debruçam sobre a questão.
O debate é sobre se de fato a legislação trabalhista brasileira é obsoleta, como propagandearam os defensores da reforma, usando como exemplo, não raro, algumas decisões tomadas pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho (TST). Se, na prática, a flexibilização das condições de proteção social até hoje garantidas legalmente pode aumentar o número de empregos e ajudar a combater a crise econômica, conforme assegurou o governo em sua argumentação para vender a reforma como a solução para os problemas do mercado de trabalho brasileiro.
Ou se, ao contrário, a mudança flexibiliza condições de trabalho em um mercado já flexibilizado e ainda distante do pactuado como aceitável, aumentando o poder de barganha dos empregadores em relação a pontos como salários, horas trabalhadas, descansos e benefícios sociais. E passando longe de combater as causas do desemprego e a depressão da economia.
No caso brasileiro, em específico, chama a atenção dos pesquisadores o fato de que a expansão do emprego, nos anos recentes, aconteceu quando houve aumento da proteção normativa. Os dados constam do estudo sobre o Brasil no projeto "Análise de boas práticas na redução do emprego informal na América Latina e no Caribe", da Organização Internacional do Trabalho (OIT), levado a cabo pelos professores José Dari Krein e Marcelo Manzano, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit) do Instituto de Economia da Unicamp. O levantamento concluiu que a retomada do crescimento econômico e a emergência de um certo protagonismo do Estado registrados no início dos anos 2000 resultaram no crescimento da taxa de formalização do emprego, na redução das taxas de desemprego e no aumento da renda média dos assalariados, especialmente os da base da pirâmide.
A reforma, por sua vez, vai no sentido de defender que o reconhecimento ou regulamentação de formas de trabalho até hoje consideradas precárias e as flexibilizações de jornadas, aliadas à liberdade para que patrões e empregados negociem o que está previsto na norma legal, vai melhorar o mercado tanto para empregadores quanto para trabalhadores. "O fato é que não há nenhuma comprovação empírica de que a reforma vai produzir os efeitos alegados por seus defensores. Não há qualquer relação estatística comprovada de que precarizar trabalho gere mais empregos. O que os levantamentos realizados dentro e fora do Brasil mostram é o contrário. A reforma retira direitos, fragiliza as relações de trabalho e terá consequências, sobretudo, na vida em sociedade", dispara Krein, elencando estudos do IBGE, do MTE, da OIT e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
"Esse discurso de que a reforma retira direitos é para confundir a opinião pública. O que a reforma faz é permitir que a aplicação dos direitos que existem hoje seja negociada. Essa visão de retirada de direitos precisa ser substituída pela visão de que a lei vai criar oportunidades para todo mundo, porque fortalece e moderniza as relações de trabalho. Precisamos de um sistema com menos Estado e mais negociação. Com ele, empregadores e empregados podem ganhar", rebate o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e membro do Conselho Superior de Estudos Estratégicos (Consea) da Fiesp, Hélio Zylberstajn.
A diferença de pontos de vista sobre a reforma pode ser exemplificada por uma de suas principais mudanças, prevista no Artigo 611-A do substitutivo aprovado no Plenário da Câmara. Por ela, o estabelecido em acordos e convenções coletivas passa a valer sobre o legislado em 16 pontos, entre eles salários e jornadas. A discussão é antiga e, no ano passado, causou mal-estar entre membros do TST e do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de dois casos em que ministros do STF reformaram decisões da instância máxima da justiça trabalhista e acataram a prevalência de acordos. Antes da aprovação na Câmara, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) se posicionou publicamente, advertindo sobre a possível inconstitucionalidade da mudança e para a interpretação simplificada do Artigo 7º da Constituição Federal como forma de embasar argumentos favoráveis à prevalência dos acordos entre as partes.
Especialistas invocam ainda a Teoria Geral do Direito do Trabalho, que prevê a aplicação sempre da lei mais benéfica, e alertam para uma armadilha contida no texto, quando fixa que "a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem (...)". A professora Luciane Barzotto, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Ufrgs e juíza do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região, explica que o detalhe do "entre outros", sem estabelecimento de que vale o mais benéfico, dá margem a polêmicas e diferentes interpretações. A magistrada integra uma parcela de juristas que acredita que em função da relação justiça social/equilíbrio entre as partes, o texto, se definitivamente aprovado, deverá ser analisado com a ideia de proteção do trabalhador que consta na CLT. "Em qualquer hipótese em que há trabalho subordinado, haverá a necessidade de intervenção estatal. Da mesma forma, o Artigo 5º da Constituição assegura a manutenção da fiscalização do Judiciário. Ou seja, nenhuma ameaça ou lesão será excluída de apreciação por parte dos Tribunais do Trabalho."